por Antonin Artaud
PREFÁCIO
O TEATRO E A CULTURA
Nunca como neste momento, quando é a própria vida que se vai, se falou tanto em civilização e cultura. E há um estranho paralelismo entre esse esboroamento generalizado da vida que está na base da desmoralização atual e a preocupação com uma cultura que nunca coincidiu com a vida e que é feita para reger a vida.
Antes de retornar à cultura, constato que o mundo tem fome e que não se preocupa com a cultura; e que é de um modo artificial que se pretende dirigir para a cultura pensamentos voltados apenas para a fome.
O mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca salvou qualquer ser humano de ter fome e da preocupação de viver melhor, mas extrair, daquilo que se chama cultura, ideias cuja força viva é idêntica à da fome.
Acima de tudo precisamos viver e acreditar no que nos faz viver e em que alguma coisa nos faz viver – e aquilo que sai do interior misterioso de nós mesmos não deve perpetuamente voltar sobre nós mesmos numa preocupação grosseiramente digestiva.
Quero dizer que se todos nos importamos com comer imediatamente, importa-nos ainda mais não desperdiçar apenas na preocupação de comer imediatamente nossa simples força de ter fome.
Se o signo da época é a confusão, vejo na base dessa confusão uma ruptura entre as coisas e as palavras, as ideias, os signos que são a representação dessas coisas.
O que falta, certamente, não são sistemas de pensamento; sua quantidade e suas contradições caracterizam nossa velha cultura européia e francesa; mas quando foi que a vida, a nossa vida, foi afetada por esses sistemas?
Não diria que os sistemas filosóficos sejam coisas para se aplicar direta e imediatamente; mas de duas, uma:
Ou esses sistemas estão em nós e estamos impregnados por eles a ponto de viver deles, e então que importam
os livros? ou não estamos impregnados por eles, e nesse caso não mereciam nos fazer viver; e, de todo modo, o que importa que desapareçam?
É preciso insistir na ideia da cultura em ação e que se torna em nós como que um novo órgão, uma espécie de segundo espírito: e a civilização é cultura que se aplica e que rege até nossas ações mais sutis, o espírito presente nas coisas; e é artificial a separação entre a civilização e a cultura, com o emprego de duas palavras para significar uma mesma e idêntica ação.
Julga-se um civilizado pelo modo como se comporta e ele pensa tal como se comporta; mas já quanto à palavra civilizado há confusão; para todo o mundo, um civilizado culto é um homem informado sobre sistemas e que pensa em sistemas, em formas, em signos, em representações.
É um monstro no qual se desenvolveu até o absurdo a faculdade que temos de extrair pensamentos de nossos atos em vez de identificar nossos atos com nossos pensamentos.
Se falta enxofre à nossa vida, ou seja, se lhe falta uma magia constante, é porque nos apraz contemplar nossos atos e nos perder em considerações sobre as formas sonhadas de nossos atos, em vez de sermos impulsionados por eles.
E essa faculdade é exclusivamente humana. Diria mesmo que é uma infecção do humano que nos estraga
ideias que deveriam permanecer divinas; pois, longe de acreditar no sobrenatural, o divino inventado pelo homem, penso que foi a intervenção milenar do homem que acabou por nos corromper o divino.
Todas as nossas ideias sobre a vida devem ser retomadas numa época em que nada adere mais à vida. E esta penosa cisão é a causa de as coisas se vingarem, e a poesia que não está mais em nós e que não conseguimos mais encontrar nas coisas reaparece de repente, pelo lado mau das coisas; nunca se viram tantos crimes, cuja gratuita estranheza só se explica por nossa impotência para possuir a vida.
Se o teatro é feito para permitir que nossos recalques adquiram vida, uma espécie de poesia atroz expressa-se através dos atos estranhos em que as alterações do fato de viver demonstram que a intensidade da vida está intacta e que bastaria dirigi-la melhor.
Por mais que exijamos a magia, porém, no fundo temos medo de uma vida que se desenvolvesse inteiramente sob o signo da verdadeira magia.
É assim que nossa ausência enraizada de cultura espanta-se diante de certas grandiosas anomalias e é assim que, por exemplo, numa ilha sem qualquer contato com a civilização atual, a simples passagem de um navio contendo apenas pessoas sadias pode provocar o surgimento de doenças desconhecidas nessa ilha e que são especialidade de nossos países: zona, influenza, gripe, reumatismos, sinusite, polineurite, etc, etc.
E, também, se achamos que os negros cheiram mal, ignoramos que para tudo o que não é Europa somos nós, brancos, que cheiramos mal. Eu diria mesmo que exalamos um odor branco, branco assim como se pode falar num “mal branco”.
Assim como o ferro em brasa é ferro branco, pode-se dizer que tudo o que é excessivo é branco; e, para um asiático, a cor branca tornou-se a insígnia da mais extremada decomposição.
Dito isso, pode-se começar a extrair uma ideia da cultura, uma ideia que é antes de tudo um protesto.
Protesto contra o estreitamento insensato que se impõe à ideia da cultura ao se reduzi-la a uma espécie de
inconcebível Panteão – o que resulta numa idolatria da cultura, assim como as religiões idolatras põem os deuses em seus Panteões.
Protesto contra a ideia separada que se faz da cultura, como se de um lado estivesse a cultura e do outro a vida; e como se a verdadeira cultura não fosse um meio refinado de compreender e de exercer a vida.
Pode-se queimar a biblioteca de Alexandria. Acima e além dos papiros, existem forças: a faculdade de reencontrá-las nos será tirada por algum tempo, mas não se suprimirá a energia delas. E é bom que desapareçam algumas facilidades exageradas e que certas formas caiam no esquecimento; assim, a cultura sem espaço nem tempo, e que nossa capacidade nervosa contém, ressurgirá com maior energia. E é justo que de tempos em tempos se produzam cataclismos que nos incitem a retornar à natureza, isto é, a reencontrar a vida. O velho totemismo dos animais, das pedras, dos objetos carregados de energia fulminante, das roupas bestialmente impregnadas, em resumo tudo o que serve para captar, dirigir e derivar forças é, para nós, uma coisa morta da qual já não sabemos extrair senão um proveito artístico e estático, um proveito de fruidor e não um proveito de ator.
Ora, o totemismo é ator porque se mexe, e é feito para atores; e toda verdadeira cultura apoia-se nos meios bárbaros e primitivos do totemismo, cuja vida selvagem, isto é, inteiramente espontânea, quero adorar.
O que nos fez perder a cultura foi nossa ideia ocidental da arte e o proveito que tiramos dela. Arte e cultura não podem andar juntas, contrariamente ao uso que se faz delas universalmente!
A verdadeira cultura age por sua exaltação e sua força, e o ideal europeu da arte visa lançar o espírito numa atitude separada da força e que assiste à sua exaltação. É uma ideia preguiçosa, inútil, e que, a curto prazo, engendra a morte. Se as múltiplas voltas da Serpente Quetzalcoatl são harmoniosas é porque expressam o equilíbrio e os desvios de uma força adormecida; e a intensidade das formas existe apenas para seduzir e captar uma força que, na música, desperta um lancinante teclado.
Os deuses que dormem nos museus: o deus do Fogo com seu incensador que lembra o tripé da Inquisição; Tlaloc, um dos múltiplos deuses das Águas, com sua muralha de granito verde; a Deusa Mãe das Águas, a Deusa Mãe das Flores; a expressão imóvel e que ressoa, sob a capa de várias camadas de água, da Deusa do vestido de jade verde; a expressão arrebatada e bem-aventurada, o rosto crepitando de aromas, em que os átomos do sol giram em círculos, da Deusa Mãe das Flores; essa espécie de servidão obrigatória de um mundo em que a pedra se anima porque foi tocada como se deve, o mundo dos civilizados orgânicos, quero dizer, cujos órgãos vitais também saem de seu repouso, esse mundo humano penetra em nós, participa da dança dos deuses, sem se voltar nem olhar para trás sob pena de se tornar, como nós mesmos, estátuas desagregadas.
No México, uma vez que se trata do México, não existe arte e as coisas servem. E o mundo está em perpétua exaltação.
À nossa ideia inerte e desinteressada da arte uma cultura autêntica opõe uma ideia mágica e violentamente egoísta, isto é, interessada. É que os mexicanos captam o Manas, as forças que dormem em todas as formas e que não podem surgir de uma contemplação das formas por si sós, mas que surgem de uma identificação mágica com essas formas. E os velhos Totens lá estão para apressar a comunicação.
Quando tudo nos leva a dormir, olhando com olhos atentos e conscientes, é difícil acordar e olhar como num sonho, com olhos que não sabem mais para que servem e cujo olhar está voltado para dentro.
É assim que aparece a ideia estranha de uma ação desinteressada, mas que mesmo assim é ação, e mais violenta por estar ao lado da tentação do repouso.
Toda verdadeira efígie tem sua sombra que a duplica; e a arte sucumbe a partir do momento em que o escultor que modela acredita liberar uma espécie de sombra cuja existência dilacerará seu repouso.
Como toda cultura mágica vertida por hieróglifos apropriados, também o verdadeiro teatro tem suas sombras; e, de todas as linguagens e de todas as artes, é a única a ainda ter sombras que romperam suas limitações. E pode-se dizer que desde a origem elas não suportavam limitações.
Nossa ideia petrificada do teatro vai ao encontro da nossa ideia petrificada de uma cultura sem sombras em que, para qualquer lado que se volte, nosso espírito só encontra o vazio, ao passo que o espaço está cheio.
Mas o verdadeiro teatro, porque se mexe e porque se serve de instrumentos vivos, continua a agitar sombras nas quais a vida nunca deixou de fremir. O ator que não refaz duas vezes o mesmo gesto, mas que faz gestos, se mexe, e sem dúvida brutaliza formas, mas por trás dessas formas, e através de sua destruição, ele alcança o que sobrevive às formas e produz a continuação delas.
O teatro que não está em nada mas que se serve de todas as linguagens – gestos, sons, palavras, fogo, gritos – encontra-se exatamente no ponto em que o espírito precisa de uma linguagem para produzir suas manifestações.
E a fixação do teatro numa linguagem – palavras escritas, música, luzes, sons – indica sua perdição a curto prazo, sendo que a escolha de uma determinada linguagem demonstra o gosto que se tem pelas facilidades dessa linguagem; e o ressecamento da linguagem acompanha sua limitação.
Para o teatro assim como para a cultura, a questão continua sendo nomear e dirigir sombras; e o teatro, que não se fixa na linguagem e nas formas, com isso destrói as falsas sombras mas prepara o caminho para um outro nascimento de sombras a cuja volta agrega-se o verdadeiro espetáculo da vida.
Romper a linguagem para tocar na vida é fazer ou refazer o teatro; e o importante é não acreditar que esse ato deva permanecer sagrado, isto é, reservado. O importante é crer que não é qualquer pessoa que pode fazê-lo, e que para isso é preciso uma preparação.
Isto leva a rejeitar as limitações habituais do homem e os poderes do homem e a tornar infinitas as fronteiras do que chamamos realidade.
É preciso acreditar num sentido da vida renovado pelo teatro, onde o homem impavidamente torna-se o senhor daquilo que ainda não é, e o faz nascer. E tudo o que não nasceu pode vir a nascer, contanto que não nos contentemos em permanecer simples órgãos de registro.
Do mesmo modo, quando pronunciamos a palavra vida, deve-se entender que não se trata da vida reconhecida pelo exterior dos fatos, mas dessa espécie de centro frágil e turbulento que as formas não alcançam. E, se é que ainda existe algo de infernal e de verdadeiramente maldito nestes tempos, é deter-se artisticamente em formas, em vez de ser como supliciados que são queimados e fazem sinais sobre suas fogueiras.
O TEATRO E A PESTE
Os arquivos da cidadezinha de Cagliari, na Sardenha, contêm o relato de um fato histórico e incrível.
Numa noite de fins de abril ou começo de maio de 1720, cerca de vinte dias antes da chegada a Marselha do navio Grand-Saint-Antoine, cuja atracação coincidiu com a mais maravilhosa explosão de peste que tenha feito borbulhar as memórias da cidade, Saint-Rémys, vice-rei da Sardenha, a quem as reduzidas responsabilidades de monarca talvez tivessem sensibilizado aos vírus mais perniciosos, teve um sonho particularmente aflitivo: viu-se pestífero e viu a peste arrasar seu minúsculo Estado.
Sob a ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem. A ordem desmorona. Ele assiste a todos os desvios da moral, a todas as derrocadas da psicologia, escuta em si mesmo o murmúrio de seus humores, corroídos, em plena destruição, e que, num vertiginoso desperdício de matéria, tornam-se densos e aos poucos metamorfoseiam-se em carvão. Será tarde demais para conjurar o flagelo? Mesmo destruído, mesmo aniquilado e pulverizado organicamente, e queimado em suas entranhas, ele sabe que não se morre nos sonhos, que neles a vontade atua até o absurdo, até a negação do possível, até uma espécie de transmutação da mentira com a qual se refaz a verdade.
Ele desperta. Saberá mostrar-se capaz de dissipar todos os boatos de peste que estão correndo e os miasmas de um vírus vindo do Oriente.
Um navio que partiu há um mês de Beirute, o Grand-Saint-Antoine, pede licença para atracar e desembarcar. E então ele dá a ordem louca, a ordem considerada delirante, absurda, imbecil e despótica pelo povo e por todo o seu círculo. Rapidamente manda para o navio, que presume contaminado, a barca do piloto e alguns homens com a ordem para que o Grand-Saint-Antoine vire de bordo imediatamente e se faça à vela para longe da cidade, sob pena de ser afundado a tiros de canhão. A guerra contra a peste. O autocrata atacava de frente.
É preciso, de passagem, observar a força especial da influência que aquele sonho exerceu sobre ele, pois ela lhe permitiu, apesar dos sarcasmos da multidão e do ceticismo de seu círculo, perseverar na ferocidade de suas ordens, passando com isso não apenas por cima do direito das pessoas como também sobre o mais simples respeito pela vida humana e sobre todos os tipos de convenções nacionais ou internacionais que, diante da morte, deixam de vigorar.
Seja como for, o navio continuou seu caminho, chegou a Livorno e entrou no porto de Marselha, onde lhe foi permitido desembarcar.
Os serviços públicos de Marselha não guardaram lembrança do que aconteceu com sua carga de pestíferos.
Sabe-se mais ou menos o que aconteceu com os marinheiros de sua tripulação, que não morreram todos de peste e se espalharam por diversos lugares.
O Grand-Saint-Antoine não levou a peste a Marselha. Ela já estava lá. E num período de particular recrudescência. Mas já se tinha conseguido localizar seus focos.
A peste trazida pelo Grand-Saint-Antoine era a peste oriental, o vírus original, e é de sua chegada e de sua difusão pela cidade que datam o lado particularmente atroz e o alastramento generalizado da epidemia.
E isso inspira alguns pensamentos.
A peste, que parece reativar um vírus, era capaz de provocar sozinha devastações sensivelmente igualitárias, pois, de toda a tripulação, o capitão foi o único a não contrair a peste e, por outro lado, parece que os pestíferos recém-chegados nunca estiveram em contato direto com os outros, mantidos em zonas fechadas. O Grand-Saint-Antoine, que passa ao alcance da voz de Cagliari, na Sardenha, não deposita a peste nessa cidade, mas o vice-rei recebe, em sonho, algumas emanações dela. Não se pode negar que entre ele e a peste tenha se estabelecido uma comunicação ponderável, embora sutil, e é muito fácil acusar, na comunicação de uma doença como essa, o contágio por simples contato.
Mas essas relações entre Saint-Rémys e a peste, bastante fortes para se liberarem em imagens em seu sonho, não são suficientemente fortes, no entanto, para provocarem nele o aparecimento da doença.
Seja como for, a cidade de Cagliari, sabendo algum tempo depois que o navio escorraçado de suas costas pela vontade despótica do príncipe míraculosamente iluminado tinha sido a causa da grande epidemia de Marselha, registrou o fato em seus arquivos, que qualquer um pode consultar.
A peste de 1720 em Marselha ofereceu-nos as únicas descrições ditas clínicas que temos do flagelo.
Mas pode-se perguntar se a peste descrita pelos médicos de Marselha era de fato a mesma de 1347 em Florença, de onde saiu o Decamerão. A história, os livros sagrados, entre os quais a Bíblia, alguns antigos tratados médicos descrevem, do exterior, todos os tipos de peste, dos quais parecem ter retido menos as características mórbidas do que a impressão desmoralizante e fabulosa que elas deixaram nos espíritos. Talvez estivessem com a razão. A medicina teria mesmo muita dificuldade para estabelecer uma diferença fundamental entre o vírus que matou Péricles às portas de Siracusa, se é que a palavra vírus é de fato alguma coisa além de uma simples facilidade verbal, e aquele que manifesta sua presença na peste descrita por Hipócrates, que alguns tratados recentes citam como uma espécie de falsa peste. E, para esses mesmos tratados, a única peste autêntica seria a que vem do Egito, proveniente dos cemitérios descobertos pelas secas do Nilo. A Bíblia e Heródoto concordam em registrar a aparição fulgurante de uma peste que dizimou, numa noite, os cento e oitenta mil homens do exército assírio, com isso salvando o império egípcio. Sendo isso verdade, seria necessário considerar o flagelo como o instrumento direto ou a materialização de uma força inteligente em estreita relação com o que chamamos de fatalidade.
E isso com ou sem o exército de ratos que naquela noite se lançou sobre as tropas assírias, cujos arreios ele roeu em algumas horas. Esse fato deve ser relacionado com a epidemia que eclodiu no ano 660 a.C. na cidade sagrada de Mekao, no Japão, por ocasião de uma simples mudança de governo.
A peste de 1502 na Provença, que deu a Nostradamus a oportunidade de exercer pela primeira vez suas faculdades de curandeiro, coincidiu também na ordem política com as reviravoltas mais profundas, quedas ou mortes de reis, desaparecimento e destruição de províncias, terremotos, fenômenos magnéticos de todo tipo, êxodos de judeus, que precedem ou sucedem, na ordem política ou cósmica, cataclismos e destruições que aqueles que os provocam são estúpidos demais para prever e não suficientemente perversos para desejar seus efeitos.
Sejam quais forem as divagações dos historiadores ou da medicina sobre a peste, creio que é possível concordar quanto à ideia de uma doença que seria uma espécie de entidade psíquica, e que não seria veiculada por um vírus. Se quiséssemos analisar de perto todos os fatos de contágio de peste que a história ou as Memórias nos apresentam, seria difícil isolar um único caso verdadeiramente comprovado de contágio por contato, e o exemplo citado por Boccaccio, de porcos que teriam morrido por cheirar lençóis em que se envolveram pessoas empestadas, só serve para demonstrar uma espécie de afinidade misteriosa entre a carne de porco e a natureza da peste, o que também teria de ser analisado com muito rigor.
Não existindo a ideia de uma verdadeira entidade mórbida, há formas que o espírito pode provisoriamente aceitar a fim de caracterizar alguns fenômenos, e parece que o espírito pode concordar com uma descrição da peste tal como a que segue.
Antes de se caracterizar qualquer mal-estar físico ou psicológico, espalham-se pelo corpo manchas vermelhas, que o doente só percebe, de repente, quando se tornam escuras. Ele nem tem tempo de se assustar, e sua cabeça já começa a ferver, a tornar-se gigantesca pelo peso, e ele cai. Então, é tomado por uma fadiga atroz, a fadiga de uma aspiração magnética central, de suas moléculas cindidas em dois e atraídas para sua aniquilação.
Seus humores descontrolados, revolvidos, em desordem, parecem galopar através de seu corpo. Seu estômago se embrulha, o interior de seu ventre parece querer sair pelo orifício dos dentes. Seu pulso, que ora diminui até tornar-se uma sombra, uma virtualidade de pulso, ora galopa, segue a efervescência de sua febre interior, a turbulenta desordem de seu espírito. O pulso batendo através de golpes precipitados como seu coração, que se torna intenso, pleno, barulhento; o olho vermelho, incendiado e depois vítreo; a língua que sufoca, enorme e grossa, primeiro branca, depois vermelha e depois preta, como que carbonífera e rachada, tudo isso anuncia uma tempestade orgânica sem precedentes. Logo os humores trespassados como a terra pelo raio, como um vulcão trabalhado pelas tempestades subterrâneas, procuram a saída para o exterior. No meio das manchas criam-se pontos mais ardentes, ao redor desses pontos a pele se ergue em pelotas como bolhas de ar sob a epiderme de uma lava, e essas bolhas são cercadas por círculos, o último dos quais, como um anel de Saturno ao redor do astro em plena incandescência, indica o limite extremo de um bubão.
O corpo fica cheio de bubões. Mas, assim como os vulcões têm seus lugares eleitos sobre a terra, os bubões também têm lugares eleitos no corpo humano. A dois ou três dedos da virilha, sob as axilas, nos locais preciosos onde glândulas ativas realizam fielmente suas funções, aparecem bubões, através dos quais o organismo descarrega ou sua podridão interior ou, conforme o caso, sua vida. Uma conflagração violenta e localizada num ponto indica na maioria das vezes que a vida central nada perdeu de sua força e que uma remissão do mal ou mesmo sua cura é possível. Assim como o cólera branco, a peste mais terrível é a que não divulga suas feições.
Aberto, o cadáver do pestífero não mostra lesões. A vesícula biliar, encarregada de filtrar os dejetos entorpecidos e inertes do organismo, fica inflada, quase estourando, cheia de um líquido escuro e pegajoso, tão compacto que lembra uma matéria nova. O sangue das artérias, das veias, também é preto e pegajoso. O corpo fica duro como pedra. Nas paredes da membrana estomacal parecem ter despertado inúmeras fontes de sangue. Tudo indica uma desordem fundamental das secreções. Mas não há nem perda nem destruição de matéria, como na lepra ou na sífilis. Os próprios intestinos, lugar dos distúrbios mais sangrentos, onde as matérias atingem um grau inusitado de putrefação e petrificação – os intestinos não estão organicamente atacados. A vesícula biliar, de onde é preciso quase arrancar o pus endurecido, como em alguns sacrifícios humanos, com uma faca afiada, um instrumento de obsidiana, vítreo e duro – a vesícula biliar está hipertrofiada e quebradiça em alguns lugares, mas intacta, sem lhe faltar nenhum pedaço, sem lesão visível, sem matéria perdida.
No entanto, em certos casos os pulmões e o cérebro lesados ficam escuros e gangrenados. Os pulmões amolecidos, fragmentados, desfazem-se em pedaços de uma matéria preta qualquer e o cérebro está fundido, gasto, pulverizado, reduzido a pó, desagregado numa espécie de pó de carvão preto.
Daí, devem-se destacar duas observações importantes: a primeira é que as síndromes da peste dispensam a gangrena dos pulmões e do cérebro, o pestífero não apresenta apodrecimento de nenhum de seus membros. Sem subestimá-la, o organismo não requer a presença de uma gangrena localizada e física para determinar sua própria morte.
A segunda observação é que os dois únicos órgãos realmente atingidos e lesados pela peste, o cérebro e os pulmões, são os que dependem diretamente da consciência e da vontade. Podemos impedir-nos de respirar ou de pensar, podemos precipitar nossa respiração, ritmá-la à vontade, torná-la voluntariamente consciente ou inconsciente, introduzir um equilíbrio entre os dois tipos de respiração: o automático, que está sob as ordens diretas do sistema simpático, e o outro, que obedece aos reflexos do cérebro tornados conscientes.
Também podemos precipitar, tornar mais lento e ritmar o pensamento. Podemos regulamentar o jogo inconsciente do espírito. Não podemos dirigir a filtragem dos humores pelo fígado, a redistribuição do sangue através do organismo pelo coração e pelas artérias, controlar a digestão, parar ou apressar a eliminação das matérias do intestino. A peste, portanto, parece manifestar sua presença nos lugares, afetar todos os lugares do corpo, todas as localizações do espaço físico, em que a vontade humana, a consciência e o pensamento estão prestes e em via de se manifestar.
Em 1880 e poucos, um médico francês chamado Yersin, que estuda os cadáveres de indochineses mortos de peste, isola um desses cabeçudos de crânio arredondado, rabo curto, que só são visíveis com microscópio, e chama aquilo de micróbio da peste. A meu ver, trata-se apenas de um elemento material menor, infinitamente menor que surge num momento qualquer do desenvolvimento do vírus, mas que em nada explica a peste. E eu preferiria que esse doutor me dissesse por que todas as grandes pestes, com ou sem vírus, têm uma duração de cinco meses, após a qual sua virulência diminui, e como aquele embaixador turco que passava pelo Languedoc, por volta do fim de 1720, conseguiu traçar uma espécie de linha que, passando por Avignon e Toulouse, chegava a Nice e Bordeaux, como limite extremo do desenvolvimento geográfico do flagelo. Os acontecimentos mostraram que ele estava certo.
De tudo isso resulta a fisionomia espiritual de um mal cujas leis não é possível determinar cientificamente e cuja origem geográfica seria tolice tentar determinar, pois a peste do Egito não é a do Oriente, que não é a de Hipócrates, que não é a de Siracusa, que não é a de Florença, a Peste Negra, à qual a Europa da Idade Média deve seus cinquenta milhões de mortos. Ninguém pode dizer por que a peste atinge o covarde que foge e poupa o dissoluto que se satisfaz sobre os cadáveres. Por que o afastamento, a castidade, a solidão nada podem fazer contra os efeitos do flagelo e por que um certo grupo de debochados que se isolou no campo, como Boccaccio com dois companheiros bem equipados e sete devotas libertinas, pode esperar tranquilamente pelos dias quentes, quando a peste se retira; e por que num castelo próximo, transformado em cidadela fortificada com um cordão de homens armados impedindo a entrada, a peste transforma toda a guarnição e os ocupantes em cadáveres e poupa os homens armados, os únicos expostos ao contágio. E quem pode explicar o fato de os cordões sanitários estabelecidos com grandes reforços de tropas, por Mehmet Ali, ao final do século passado, por ocasião de uma recrudescência da peste egípcia, terem se mostrado eficazes na proteção dos conventos, escolas, prisões e palácios; e por que muitos focos de uma peste que tinha todas as características da peste oriental puderam irromper de repente na Europa da Idade Média em lugares sem qualquer contato com o Oriente.
É com essas estranhezas, esses mistérios, contradições e aspectos que se deve compor a fisionomia espiritual de um mal que corrói o organismo e a vida até a ruptura e o espasmo, como uma dor que, à medida que cresce em intensidade e se aprofunda, multiplica seus acessos e suas riquezas em todos os círculos da sensibilidade.
Mas dessa liberdade espiritual com a qual a peste se desenvolve, sem ratos, sem micróbios e sem contatos, pode-se extrair o jogo absoluto e sombrio de um espetáculo que tentarei analisar.
Estabelecida a peste numa cidade, seus quadros regulares desmoronam, não há mais limpeza pública, nem exército, nem polícia, nem prefeitura; acendem-se fogueiras para queimar os mortos, conforme a disponibilidade de braços. Cada família quer ter sua fogueira. Depois a madeira, o lugar e o fogo escasseiam, há lutas entre famílias ao redor das fogueiras, logo seguidas por uma fuga geral, pois os cadáveres já são em número excessivo. Os mortos já atravancam as ruas, em pirâmides instáveis que animais roem aos poucos. Seu mau cheiro sobe pelo ar como uma labareda. Ruas inteiras são bloqueadas pelo amontoamento dos mortos. É então que as casas se abrem, que pestíferos delirantes, com os espíritos carregados de imaginações pavorosas, espalham-se gritando pelas ruas. O mal que lhes corrói as vísceras, que anda por seu organismo inteiro, libera-se em jorros através do espírito. Outros pestíferos que, sem bubões, sem dores, sem delírios e sem sangramentos, observam-se orgulhosamente em espelhos, sentindo-se explodir de saúde, caem mortos, com a bacia nas mãos, cheios de desprezo pelos outros pestíferos.
Sobre os riachos sangrentos, espessos, nauseabundos, cor de angústia e de ópio que brotam dos cadáveres passam estranhas personagens vestidas de cera, com narizes compridos, olhos de vidro e montadas em uma espécie de sandálias japonesas, feitas com um arranjo duplo de tabuinhas de madeira, uma horizontal em forma de sola e a outra vertical, que as isolam dos humores infectos; elas passam salmodiando litanias absurdas, cuja virtude não as impede de submergir por sua vez no braseiro. Esses médicos ignaros só mostram seu medo e sua puerilidade.
Nas casas abertas, a ralé imunizada, ao que parece, por seu cúpido frenesi, penetra e rouba riquezas que ela sente que lhe serão inúteis. E é então que se instala o teatro. O teatro, isto é, a gratuidade imediata que leva a atos inúteis e sem proveito para o momento presente.
Os últimos vivos se exasperam: o filho, até então submisso e virtuoso, mata o pai; o casto sodomiza seus parentes. O libertino torna-se puro. O avarento joga seu ouro aos punhados pela janela. O herói guerreiro incendeia a cidade por cuja salvação outrora se sacrificou. O elegante se enfeita e vai passear nos ossários. Nem a ideia da ausência de sanções nem a da morte próxima bastam para motivar atos tão gratuitamente absurdos por parte de pessoas que não acreditavam que a morte fosse capaz de acabar com tudo. E como explicar esse aumento de febre erótica entre pestíferos curados que, em vez de fugir, ficam onde estão, tentando extrair uma volúpia condenável de moribundos ou mesmo mortos, meio esmagados pelo amontoado de cadáveres onde o acaso os alojou.
Mas se é preciso um flagelo maior para provocar o surgimento dessa gratuidade frenética e se esse flagelo chama-se peste, talvez se pudesse procurar saber, em relação à nossa personalidade total, a que equivale essa gratuidade.
O estado do pestífero que morre sem destruição da matéria, tendo em si todos os estigmas de um mal absoluto e quase abstrato, é idêntico ao estado do ator integralmente penetrado e transtornado por seus sentimentos, sem nenhum proveito para a realidade. Tudo no aspecto físico do ator, assim como no do pestífero, mostra que a vida reagiu ao paroxismo e, no entanto, nada aconteceu.
Entre o pestífero que corre gritando em busca de suas imagens e o ator que persegue sua sensibilidade; entre o vivo que se compõe das personagens que em outras circunstâncias nunca teria pensado em imaginar, e que as realiza no meio de um público de cadáveres e de alienados delirantes, e o poeta que inventa personagens intempestivamente e as entrega a um público igualmente inerte ou delirante, há outras analogias que explicam as únicas verdades que importam e que põem a ação do teatro e a da peste no plano de uma verdadeira epidemia.
Enquanto as imagens da peste em relação com um poderoso estado de desorganização física são como os derradeiros jorros de uma força espiritual que se esgota, as imagens da poesia no teatro são uma força espiritual que começa sua trajetória no sensível e dispensa a realidade. Uma vez lançado em seu furor, é preciso muito mais virtude ao ator para impedir-se de cometer um crime do que coragem ao assassino para executar seu crime, e é aqui que, em sua gratuidade, a ação de um sentimento no teatro surge como algo infinitamente mais válido do que a ação de um sentimento realizado.
Diante do furor do assassino que se esgota, o furor do ator trágico permanece num círculo puro e fechado. O furor do assassino realizou um ato, ele se descarrega e perde contato com a força que o inspira mas que não mais o alimentará. Esse furor assumiu agora uma forma, a do ator, que se nega à medida que se libera, se funde na universalidade.
Se quisermos admitir agora a imagem espiritual da peste, consideraremos os humores perturbados do pestífero como sendo a face solidificada e material de um distúrbio que, em outros planos, equivale aos conflitos, às lutas, aos cataclismos e débâcles que os acontecimentos nos trazem. E, assim como não é impossível que o desespero inútil e os gritos de um alienado num asilo causem a peste, por uma espécie de reversibilidade de sentimentos e de imagens, do mesmo modo pode-se admitir que os acontecimentos exteriores, os conflitos políticos, os cataclismos naturais, a ordem da revolução e a desordem da guerra, ao passarem para o plano do teatro, se descarreguem na sensibilidade de quem os observa com a força de uma epidemia.
Santo Agostinho em A Cidade de Deus acusa essa semelhança de ação entre a peste que mata sem destruir órgãos e o teatro que, sem matar, provoca no espírito não apenas de um indivíduo, mas de um povo, as mais misteriosas alterações.
“Sabei”, diz ele, “vós que o ignorais, que esses jogos cênicos, espetáculos de torpezas, não foram estabelecidos em Roma pelos vícios dos homens, mas por ordem de vossos deuses. Seria mais razoável prestar homenagens divinas a Cipião do que a deuses assim; claro, eles não valiam o pontífice que tinham!…
Para apaziguar a peste que matava os corpos, vossos deuses exigem em sua honra esses jogos cênicos, e vosso pontífice, querendo evitar a peste que corrompe as almas, opõe-se à construção do próprio palco. Se ainda vos restam alguns lampejos de inteligência para preferirdes a alma ao corpo, escolhei quem merece vossas adorações; pois a astúcia dos Espíritos maus, prevendo que o contágio cessaria nos corpos, aproveitou alegremente a ocasião para introduzir um flagelo muito mais perigoso, pois atinge não os corpos, mas os costumes. De fato, tal é a cegueira, tal é a corrupção produzida pelos espetáculos na alma que, mesmo nestes últimos tempos, aqueles que têm essa paixão funesta, que escaparam ao saque de Roma e se refugiaram em Cartago, passavam o dia no teatro, delirando, cada um mais que o outro, pelos histriões.”
É inútil dar as razões exatas desse delírio comunicativo. Mais valeria procurar as razões pelas quais o organismo nervoso esposa, ao fim de algum tempo, as vibrações da música mais sutil até extrair delas uma espécie de modificação durável. Antes de mais nada, importa admitir que, como a peste, o jogo teatral seja um delírio e que seja comunicativo.
O espírito acredita no que vê e faz aquilo em que acredita: esse é o segredo do fascínio. E santo Agostinho não coloca em dúvidas nem por um instante, em seu texto, a realidade desse fascínio.
No entanto, há certas condições a serem buscadas para fazer nascer no espírito um espetáculo que o fascine; e esta não é uma simples questão de arte.
Ora, se o teatro é como a peste, não é apenas porque ele age sobre importantes coletividades e as transtorna no mesmo sentido. Há no teatro, como na peste, algo de vitorioso e de vingativo ao mesmo tempo. Sente-se que esse incêndio espontâneo que a peste provoca por onde passa não é nada além de uma imensa liquidação.
Um desastre social tão completo, um tal distúrbio orgânico, esse transbordamento de vícios, essa espécie de exorcismo total que aperta a alma e a esgota indicam a presença de um estado que é, por outro lado, uma força extrema em que se encontram em carne viva todos os poderes da natureza no momento em que ela está prestes a realizar algo essencial.
A peste toma imagens adormecidas, uma desordem latente e as leva de repente aos gestos mais extremos; o teatro também toma gestos e os esgota: assim como a peste, o teatro refaz o elo entre o que é e o que não é, entre a virtualidade do possível e o que existe na natureza materializada. O teatro reencontra a noção das figuras e dos símbolos tipos, que agem como se fossem pausas, sinais de suspensão, paradas cardíacas, acessos de humor, acessos inflamatórios de imagens em nossas cabeças bruscamente despertadas; o teatro nos restitui todos os conflitos em nós adormecidos com todas as suas forças, e ele dá a essas forças nomes que saudamos como se fossem símbolos: e diante de nós trava-se então uma batalha de símbolos, lançados uns contra os outros num pisoteamento impossível; pois só pode haver teatro a partir do momento em que realmente começa o impossível e em que a poesia que acontece em cena alimenta e aquece símbolos realizados.
Esses símbolos que são signos de forças maduras, mas até então subjugadas e sem uso na realidade, explodem sob o aspecto de imagens incríveis que dão direito de cidadania e de existência a atos hostis por natureza à vida das sociedades.
Uma verdadeira peça de teatro perturba o repouso dos sentidos, libera o inconsciente comprimido, leva a uma espécie de revolta virtual e que aliás só poderá assumir todo o seu valor se permanecer virtual, impõe às coletividades reunidas uma atitude heroica e difícil.
Assim é que em Annabella, de Ford, vemos, para nossa perplexidade, e desde que as cortinas se levantam, um ser lançado numa insolente reivindicação de incesto, e que emprega todo o seu vigor de ser consciente e jovem para proclamá-la e justificá-la.
Ele não vacila nem por um momento, não hesita nem um minuto; e com isso mostra o quanto contam pouco todas as barreiras que lhe poderiam ser opostas. É criminoso com heroísmo e é heroico com audácia e ostentação. Tudo o força nesse sentido e o exalta, nada tem a seu favor, a não ser a força de sua paixão convulsiva, à qual não deixa de corresponder a paixão também rebelde e igualmente heroica de Annabella.
“Choro”, diz ela, “não por remorso, mas por medo de não conseguir saciar minha paixão.” São ambos falsos, hipócritas, mentirosos pelo bem de sua paixão sobre-humana, que é reprimida e contida pelas leis mas que eles colocarão acima das leis.
Vingança por vingança e crime por crime. Quando os acreditamos ameaçados, encurralados, perdidos e estamos prestes a lamentar sua condição de vítimas, revelam-se prontos para devolver ao destino ameaça por ameaça e golpe por golpe.
Caminhamos com eles de excesso em excesso e de exigência em exigência. Annabella é presa, condenada por adultério, incesto, humilhada, insultada, arrastada pelos cabelos, e é grande nosso estupor ao ver que, longe de procurar uma escapatória, ela provoca ainda mais seu carrasco e canta numa espécie de heroísmo obstinado. É o absoluto da revolta, o amor sem tréguas e exemplar que nos faz, a nós espectadores, sufocar de angústia diante da ideia de que nada a conseguirá deter.
Se procuramos um exemplo da liberdade absoluta na revolta, a Annabella de Ford nos oferece esse poético exemplo ligado à imagem do perigo absoluto.
E quando acreditamos ter chegado ao paroxismo do horror, do sangue, das leis ultrajadas, da poesia enfim consagrada pela revolta, somos obrigados a ir ainda mais longe numa vertigem que nada pode deter.
Mas no final, dizemo-nos, é a vingança, é a morte por tanta audácia e por um crime tão implacável.
Pois bem, não. Giovanni, o amante, inspirado por um grande poeta exaltado, coloca-se acima da vingança, acima do crime, através de uma espécie de crime indescritível e apaixonado, acima da ameaça, acima do horror através de um horror ainda maior que desnorteia ao mesmo tempo as leis, a moral e os que ousam ter a audácia de se erigirem em justiceiros.
Trama-se engenhosamente uma armadilha, prepara-se um banquete em que, entre os convidados, estarão ocultos espadachins e esbirros, prontos a se jogarem sobre ele ao menor sinal. Mas esse herói acuado, perdido, e inspirado pelo amor, não deixará ninguém justiçar esse amor.
Vocês querem, ele parece dizer, a pele de meu amor, pois sou eu quem lhes jogará esse amor na cara, sou eu quem os aspergirá com o sangue desse amor a cuja altura vocês são incapazes de se elevar.
E ele mata sua amante e lhe arranca o coração, como que para se nutrir dele no meio de um banquete em que era a ele mesmo que os convivas esperavam poder devorar.
E, antes de ser executado, mata também seu rival, o marido da irmã, que ousou levantar-se contra esse amor, e o executa numa última luta que surge assim como seu próprio espasmo de agonia.
Como a peste, o teatro é portanto uma formidável convocação de forças que reconduzem o espírito, pelo exemplo, à origem de seus conflitos. E o exemplo passional de Ford nada mais é, percebe-se isso muito bem, do que o símbolo de um trabalho mais grandioso e absolutamente essencial.
A aterradora aparição do Mal que nos Mistérios de Elêusis se dava em sua forma pura, e era verdadeiramente revelada, corresponde ao tempo negro de certas tragédias antigas que todo teatro verdadeiro deverá reencontrar.
Se o teatro essencial é como a peste, não é por ser contagioso, mas porque, como a peste, ele é a revelação, a afirmação, a exteriorização de um fundo de crueldade latente através do qual se localizam num indivíduo ou num povo todas as possibilidades perversas do espírito. Assim como a peste, ele é o tempo do mal, o triunfo
das forças negras que uma força ainda mais profunda alimenta até a extinção.
Há nele, como na peste, uma espécie de estranho sol, uma luz de intensidade anormal em que parece que o difícil e mesmo o impossível tornam-se de repente nosso elemento normal. E Annabella de Ford, como todo teatro verdadeiramente válido, está sob a luz desse estranho sol. Ela se parece com a liberdade da peste em que, passo a passo, de degrau em degrau, o agonizante infla sua personagem, em que o ser vivo torna-se aos poucos um ser grandioso e expandido.
Pode-se dizer agora que toda verdadeira liberdade é negra e se confunde infalivelmente com a liberdade do sexo, que também é negra, sem que se saiba muito bem por quê. Pois há muito tempo o Eros platônico, o sentido sexual, a liberdade de vida, desapareceu sob o revestimento escuro da Libido, que se identifica com tudo o que há de sujo, de abjeto, de infame no fato de viver, de se precipitar com um vigor natural e impuro, com uma força sempre renovada, na direção da vida.
É assim que todos os grandes Mitos são negros e é assim que não se pode imaginar fora de uma atmosfera de carnificina, tortura, de sangue vertido, todas as magníficas Fábulas que narram para as multidões a primeira divisão sexual e a primeira carnificina de espécies que surgem na criação.
O teatro, como a peste, é feito à imagem dessa carnificina, dessa essencial separação. Desenreda conflitos, libera forças, desencadeia possibilidades, e se essas possibilidades e essas forças são negras a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida.
Não consideramos que a vida tal como é e tal como a fizeram para nós seja razão para exaltações. Parece que através da peste, e coletivamente, um gigantesco abscesso, tanto moral quanto social, é vazado; e, assim como a peste, o teatro existe para vazar abscessos coletivamente.
Pode ser que o veneno do teatro lançado no corpo social o desagregue, como diz santo Agostinho, mas então ele o faz como uma peste, um flagelo vingador, uma epidemia salvadora na qual épocas crédulas retenderam ver o dedo de Deus e que nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza em que todo gesto é compensado por outro gesto e toda ação por sua reação.
O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. E a peste é um mal superior porque é uma crise completa após a qual resta apenas a morte ou uma extrema purificação. Também o teatro é um mal porque é o equilíbrio supremo que não se adquire sem destruição. Ele convida o espírito a um delírio que exalta suas energias; e para terminar pode-se observar que, do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da peste, é benfazeja pois, levando os homens a se verem como são, faz cair a máscara, põe a descoberto a mentira, a tibieza, a baixeza, o engodo; sacode a inércia asfixiante da matéria que atinge até os dados mais claros dos sentidos; e, revelando para coletividades o poder obscuro delas, sua força oculta, convida-as a assumir diante do destino uma atitude heróica e superior que, sem isso, nunca assumiriam.
E a questão que agora se coloca é saber se neste mundo em declínio, que está se suicidando sem perceber, haverá um núcleo de homens capazes de impor essa noção superior do teatro, que devolverá a todos nós o equivalente natural e mágico dos dogmas em que não acreditamos mais.
A ENCENAÇÃO E A METAFÍSICA
No Louvre há uma pintura de um primitivo, conhecido ou desconhecido, não sei, mas cujo nome nunca será representativo de um período importante da história da arte. Esse primitivo chama-se Lucas van den Leyden e a meu ver ele torna inúteis e abortados os quatrocentos ou quinhentos anos de pintura que vieram depois dele. A tela de que estou falando intitula-se As filhas de Loth, tema bíblico em moda na época. Claro que, na Idade Média, a Bíblia não era entendida como a entendemos hoje, e este quadro é um exemplo estranho das deduções místicas que podem ser extraídas dela. Em todo caso, seu patético é visível mesmo de longe, impressiona o espírito com uma espécie de harmonia visual fulminante, ou seja, cuja acuidade age inteira e é apanhada num único olhar. Mesmo antes de poder ver do que se trata, sente-se que ali está acontecendo algo grandioso, e os ouvidos, por assim dizer, emocionam-se ao mesmo tempo que os olhos. Um drama de alta importância intelectual, ao que parece, é captado como uma brusca reunião de nuvens que o vento, ou uma fatalidade muito mais direta, tivesse levado a colocar seus relâmpagos em confronto.
Com efeito, o céu do quadro é escuro e carregado, mas mesmo antes de conseguir distinguir que o drama nasceu no céu, se passa no céu, a particular iluminação da tela, o emaranhado das formas, a impressão que se tem de longe, tudo isso anuncia uma espécie de drama da natureza, cujo equivalente eu desafio qualquer pintor dos Períodos Áureos da pintura a nos propor.
Uma tenda ergue-se à beira-mar, diante da qual Loth, sentado com sua couraça e uma barba do mais lindo vermelho, observa a evolução de suas filhas, como se assistisse a um festim de prostitutas.
E, de fato, elas se exibem, umas como mães de família, outras como guerreiras, penteiam os cabelos e se paramentam, como se nunca tivessem tido outro objetivo além de agradar ao pai, servir-lhe de brinquedo ou instrumento. Surge assim o caráter profundamente incestuoso do velho tema que o pintor desenvolve aqui em imagens apaixonadas. Prova de que ele compreendeu perfeitamente como um homem moderno, ou seja, assim como nós poderíamos compreendê-la, a profunda sexualidade do tema. Prova de que seu caráter de sexualidade profunda mas poética não lhe escapou, como não nos escapa.
À esquerda da tela, e um pouco em segundo plano, eleva-se a alturas prodigiosas uma torre preta, apoiada na base por todo um sistema de rochedos, plantas, caminhos sinuosos delimitados por marcos, pontilhados por casas aqui e ali. E, por um feliz efeito de perspectiva, um desses caminhos de repente se destaca do emaranhado através do qual se infiltrava, atravessa uma ponte, para finalmente receber um raio dessa luz de tempestade que transborda das nuvens, aspergindo toda a região de modo irregular. O mar ao fundo da tela é extremamente alto e, além disso, extremamente calmo, considerando-se o emaranhado de fogo que fervilha num canto do céu.
De repente, no crepitar de fogos de artifício, através do bombardeio noturno das estrelas, dos raios, das bombas solares, vemos de repente revelar-se a nossos olhos, numa luz de alucinação, em relevo sobre a noite, alguns detalhes da paisagem: árvores, torre, montanhas, casas, cuja iluminação e cuja aparição permanecerão para sempre ligadas em nosso espírito à ideia desse dilaceramento sonoro; não é possível exprimir melhor esta submissão dos diversos aspectos da paisagem ao fogo manifestado no céu do que dizendo que, embora tenham luz própria, permanecem relacionados ao fogo como espécies de ecos amortecidos, como pontos de referência vivos, nascidos do fogo e ali colocados para permitir que ele exerça toda a sua força de destruição.
Existe aliás no modo pelo qual o pintor descreve esse fogo alguma coisa de terrivelmente enérgico e perturbador, como um elemento ainda em ação e móvel numa expressão imobilizada. Pouco importa o meio pelo qual esse efeito é alcançado, ele é real; basta ver o quadro para convencer-se disso.
Seja como for, esse fogo, que emana uma impressão de inteligência e de maldade que ninguém poderia negar, serve, por sua própria violência, de contrapeso no espírito para a estabilidade material e densa do resto.
Entre o mar e o céu, mas à direita e no mesmo plano em perspectiva da Torre Negra, avança uma delgada língua de terra coroada por um mosteiro em ruínas.
Essa língua de terra, por mais próxima que pareça da margem em que se ergue a tenda de Loth, abre espaço para um golfo imenso no qual parece ter havido um desastre marítimo sem precedentes. Barcos cortados ao meio e que não chegam a afundar apóiam-se no mar como em muletas, enquanto ao lado flutuam seus mastros arrancados e suas vergas.
Seria difícil dizer por que é tão total a impressão de desastre que provém da observação de apenas um ou dois navios despedaçados.
Parece que o pintor conhecia alguns segredos relativos à harmonia linear e os meios de fazê-la atuar diretamente sobre o cérebro, como um reagente físico. Em todo caso, essa impressão de inteligência espalhada pela natureza exterior, e sobretudo no modo de representá-la, é visível em vários outros detalhes do quadro, como testemunha a ponte da altura de uma casa de oito andares que se ergue sobre o mar e onde personagens em fila desfilam como as ideias na caverna de Platão.
Pretender que são claras as ideias que se depreendem desse quadro seria falso. Em todo caso, são de uma grandeza da qual a pintura que só sabe pintar, ou seja, toda a pintura de vários séculos, nos desacostumou completamente.
Acessoriamente, ao lado de Loth e de suas filhas, há uma ideia sobre a sexualidade e a reprodução, com Loth que parece ter sido colocado ali para aproveitar-se abusivamente de suas filhas, como um zangão.
É quase a única ideia social que a pintura contém.
Todas as outras são ideias metafísicas. Lamento pronunciar essa palavra, mas é o nome delas; e eu diria até que sua grandeza poética, sua eficácia concreta sobre nós, provém do fato de serem metafísicas, e que sua profundidade espiritual é inseparável da harmonia formal e exterior do quadro.
Há ainda uma ideia sobre o Devir que os diversos detalhes da paisagem e o modo pelo qual foram pintados, pelo qual seus planos se aniquilam ou se correspondem, introduzem-nos no espírito tal como a música o faria.
Há uma outra ideia sobre a Fatalidade, expressa menos pelo aparecimento desse fogo brusco do que pelo modo solene como todas as formas se organizam ou se desorganizam abaixo dele, umas como que curvadas pelo vento de um pânico irresistível, outras imóveis e quase irônicas, todas obedecendo a uma harmonia intelectual poderosa, que parece o próprio espírito da natureza, exteriorizado.
Há também uma ideia sobre o Caos, outra sobre o Maravilhoso, sobre o Equilíbrio; há até uma ou duas sobre as impotências da Palavra, cuja inutilidade essa pintura extremamente material e anárquica parece nos demonstrar.
Em todo caso, digo que essa pintura é o que o teatro deveria ser, se soubesse falar a linguagem que lhe pertence.
E faço uma pergunta:
Como é que no teatro, pelo menos no teatro tal como o conhecemos na Europa, ou melhor, no Ocidente, tudo o que é especificamente teatral, isto é, tudo o que não obedece à expressão através do discurso, das palavras ou, se preferirmos, tudo que não está contido no diálogo (o próprio diálogo considerado em função de suas possibilidades de sonorização na cena, e das exigências dessa sonorização) seja deixado em segundo plano?
Como é que o teatro ocidental (digo ocidental porque felizmente há outros, como o teatro oriental, que souberam conservar intacta a ideia de teatro, ao passo que no Ocidente esta ideia – como todo o resto – se prostituiu), como é que o teatro ocidental não enxerga o teatro sob um outro aspecto que não o do teatro dialogado?
O diálogo – coisa escrita e falada – não pertence especificamente à cena, pertence ao livro; a prova é que nos manuais de história literária reserva-se um lugar para o teatro considerado como ramo acessório da história da linguagem articulada.
Digo que a cena é um lugar físico e concreto que pede para ser preenchido e que se faça com que ela fale sua linguagem concreta.
Digo que essa linguagem concreta, destinada aos sentidos e independente da palavra, deve satisfazer antes de tudo aos sentidos, que há uma poesia para os sentidos assim como há uma poesia para a linguagem e que a linguagem física e concreta à qual me refiro só é verdadeiramente teatral na medida em que os pensamentos que expressa escapam à linguagem articulada.
Perguntar-me-ão que pensamentos são esses que a palavra não pode expressar e que, muito melhor do que através da palavra, encontrariam sua expressão ideal na linguagem concreta e física do palco.
Responderei a esta pergunta um pouco mais tarde. Mais urgente me parece determinar em que consiste essa linguagem física, essa linguagem material e sólida através da qual o teatro pode se distinguir da palavra.
Ela consiste em tudo o que ocupa a cena, em tudo aquilo que pode se manifestar e exprimir materialmente numa cena, e que se dirige antes de mais nada aos sentidos em vez de se dirigir em primeiro lugar ao espírito, como a linguagem da palavra. (Sei muito bem que também as palavras têm possibilidades de sonorização, modos diversos de se projetarem no espaço, que chamamos de entonações. E, aliás, haveria muito a dizer sobre o valor concreto da entonação no teatro, sobre a faculdade que têm as palavras de criar, também elas, uma música segundo o modo como são pronunciadas, independentemente de seu sentido concreto, e que pode até ir contra esse sentido – de criar sob a linguagem uma corrente subterrânea de impressões, de correspondências, de analogias; mas esse modo teatral de considerar a linguagem já é um aspecto da linguagem acessória para o autor dramático, que ele já não leva em conta, sobretudo atualmente, ao estabelecer suas peças. Portanto, deixemos isso de lado.)
Essa linguagem feita para os sentidos deve antes de mais nada tratar de satisfazê-los. Isso não a impede de, em seguida, desenvolver todas as suas consequências intelectuais em todos os planos possíveis e em todas as direções. E isso permite a substituição da poesia da linguagem por uma poesia no espaço que se resolverá exatamente no domínio do que não pertence estritamente às palavras.
Sem dúvida seria bom que tivéssemos, para melhor compreender o que quero dizer, alguns exemplos dessa poesia no espaço, capaz de criar como que imagens materiais equivalentes às imagens das palavras. Esses exemplos serão vistos mais adiante.
Essa poesia muito difícil e complexa reveste-se de múltiplos aspectos: em primeiro lugar, os de todos os meios de expressão utilizáveis em cena, como música, dança, artes plásticas, pantomima, mímica, gesticulação, entonações, arquitetura, iluminação e cenário. Cada um desses meios tem uma poesia própria, intrínseca, e depois uma espécie de poesia irônica que provém do modo como ele se combina com os outros meios de expressão; e é fácil perceber as consequências dessas combinações, de suas reações e de suas destruições recíprocas.
Mais adiante voltarei a essa poesia, que só poderá ser totalmente eficaz se for concreta, isto é, se produzir objetivamente alguma coisa através de sua presença ativa em cena – se um som como no Teatro de Bali equivale a um gesto, e em vez de servir de cenário, de acompanhamento de um pensamento, faz com que ele evolua, o dirige, o destrói ou o transforma definitivamente, etc.
Uma forma dessa poesia no espaço – além daquela que pode ser criada com combinações de linhas, formas, cores, objetos em estado bruto, como acontece em todas as artes – pertence à linguagem através dos signos. E me deixarão falar um instante, espero, deste outro aspecto da linguagem teatral pura, que escapa à palavra, da linguagem por signos, gestos e atitudes que têm um valor ideográfico tal como existem ainda em certas pantomimas não pervertidas.
Por “pantomima não pervertida” entendo a pantomima direta em que os gestos, em vez de representarem palavras, corpos de frases, como em nossa pantomima europeia, que tem apenas cinquenta anos, e que não passa de mera deformação das partes mudas da comédia italiana, representam ideias, atitudes do espírito, aspectos da natureza, e isso de um modo efetivo, concreto, isto é, evocando sempre objetos ou detalhes naturais, como a linguagem oriental que representa a noite através de uma árvore na qual um pássaro que já fechou um olho começa a fechar o outro. E uma outra ideia abstrata ou atitude de espírito poderia ser representada por alguns dos inúmeros símbolos das Escrituras; exemplo: o buraco da agulha pelo qual o camelo é incapaz de passar.
Vê-se que esses signos constituem verdadeiros hieróglifos, em que o homem, na medida em que contribui para formá-los, é apenas uma forma como outra qualquer, à qual, em virtude de sua dupla natureza, ele acrescenta no entanto um prestígio singular.
Essa linguagem que evoca ao espírito imagens de uma poesia natural (ou espiritual) intensa dá bem a ideia do que poderia ser no teatro uma poesia no espaço independente da linguagem articulada.
Seja o que for essa linguagem e sua poesia, observo que em nosso teatro, que vive sob a ditadura exclusiva da palavra, essa linguagem de signos e de mímica, essa pantomima silenciosa, essas atitudes, esses gestos no ar, essas entonações objetivas, em suma, tudo o que considero como especificamente teatral no teatro, todos esses elementos, quando existem fora do texto, constituem para todo o mundo a região baixa do teatro, são chamados negligentemente de “arte”, e confundem-se com aquilo que se entende por encenação ou “realização”; e ainda é sorte quando não se atribui à palavra encenação a ideia de uma suntuosidade artística e exterior, que pertence exclusivamente às roupas, à iluminação e ao cenário.
E em oposição a esse modo de ver, modo que me parece bem ocidental, ou antes latino, isto é, obstinado, diria que na medida em que essa linguagem parte da cena, onde extrai sua eficácia de sua criação espontânea em cena, na medida em que se defronta diretamente com a cena sem passar pelas palavras (e por que não imaginar uma peça composta diretamente em cena, realizada em cena?), o teatro é a encenação, muito mais do que a peça escrita e falada. Pedir-me-ão, sem dúvida, que explique o que há de latino nesta visão oposta à minha. O que existe de latino é esta necessidade de utilizar as palavras para expressar ideias que sejam claras. Para mim, no teatro como em toda parte, ideias claras são ideias mortas e acabadas.
A ideia de uma peça feita diretamente em cena, esbarrando nos obstáculos da realização e da cena, impõe a descoberta de uma linguagem ativa, ativa e anárquica, em que sejam abandonadas as delimitações habituais entre os sentimentos e as palavras.
Em todo caso, e apresso-me em dizê-lo desde já, um teatro que submete ao texto a encenação e a realização, isto é, tudo o que é especificamente teatral, é um teatro de idiota, louco, invertido, gramático, merceeiro, antipoeta e positivista, isto é, um teatro de ocidental.
Sei muito bem, por outro lado, que a linguagem dos gestos e das atitudes, que a dança, a música são menos capazes de elucidar um caráter, de relatar os pensamentos humanos de uma personagem, de expor os estados da consciência claros e precisos do que a linguagem verbal, mas quem disse que o teatro é feito para elucidar um caráter, para resolver conflitos de ordem humana e passional, de ordem atual e psicológica, coisas de que nosso teatro contemporâneo está repleto?
Sendo o teatro tal como o vemos aqui, dir-se-ia que a única coisa que importa na vida é saber se vamos trepar direito, se faremos a guerra ou se seremos suficientemente covardes para fazer a paz, como nos arranjamos com nossas pequenas angústias morais e se tomaremos consciência de nossos “complexos” (isto dito em linguagem erudita) ou se nossos “complexos” acabarão por nos sufocar. É raro aliás que o debate se eleve ao plano social e que se critique nosso sistema social e moral. Nosso teatro nunca chega ao ponto de perguntar se por acaso esse sistema social e moral não seria iníquo.
Digo que o estado social atual é iníquo e deve ser destruído. E, se cabe ao teatro preocupar-se com isso, cabe ainda mais à metralhadora. Nosso teatro nem é capaz de colocar essa questão do modo ardoroso e eficaz que seria necessário, mas, mesmo que o fizesse, estaria saindo de seu objeto, que para mim é algo superior e mais secreto.
Todas as preocupações enumeradas acima infestam o homem de um modo inverossímil, o homem provisório e material, diria mesmo, o homem carcaça. No que me diz respeito, essas preocupações me repugnam, me repugnam no mais alto grau, assim como quase todo o teatro contemporâneo, tão humano quanto é antipoético e que, com exceção de três ou quatro peças, me parece ter o fedor da decadência e do pus.
O teatro contemporâneo está em decadência porque perdeu, por um lado, o sentido da seriedade e, por outro, o do riso. Porque rompeu com a seriedade, com a eficácia imediata e perniciosa – em suma, com o Perigo.
Porque perdeu, por outro lado, o sentido do humor verdadeiro e do poder de dissociação física e anárquica do riso.
Porque rompeu com o espírito de anarquia profunda que está na base de toda poesia.
É preciso admitir que tudo na destinação de um objeto, no sentido ou na utilização de uma forma natural, tudo é questão de convenção. Quando a natureza deu a uma árvore a forma de árvore, podia muito bem lhe ter dado a forma de um animal ou de uma colina, teríamos pensado árvore ao ver um animal ou uma colina, e pronto.
Entende-se que uma mulher bonita tem uma voz harmoniosa; se desde que o mundo é mundo tivéssemos ouvido todas as mulheres lindas nos chamarem com toques de trompa e nos cumprimentarem com barridos, por toda a eternidade teríamos associado a ideia do barrido com a ideia de mulher bonita, e com isso parte de nossa visão interior do mundo teria sido radicalmente transformada.
Compreende-se assim que a poesia é anárquica na medida em que põe em questão todas as relações entre os objetos e entre as formas e suas significações. É anárquica também na medida em que seu aparecimento é a consequência de uma desordem que nos aproxima do caos.
Não darei outros exemplos disso. Poderíamos multiplicá-los ao infinito, e não apenas com exemplos humorísticos como os que acabo de utilizar.
Teatralmente, essas inversões de forma, esses deslocamentos de significações poderiam tornar-se o elemento essencial dessa poesia humorística e no espaço que é exclusivamente da encenação.
Num filme dos Irmãos Marx, um homem, que acredita estar abraçando uma mulher, abraça uma vaca, que dá um mugido. E, por um concurso de circunstâncias em que seria muito longo insistir, esse mugido, naquele momento, assume uma dignidade intelectual igual à de qualquer grito de mulher.
Uma situação como essa, possível no cinema, não é menos possível no teatro: bastaria pouca coisa, como por exemplo substituir a vaca por um boneco animado, uma espécie de monstro dotado de fala, ou por um ser humano disfarçado de animal, e com isso se reencontraria o segredo de uma poesia objetiva com base no humor e à qual o teatro renunciou, que ele abandonou pelo musichall e que depois o cinema aproveitou.
Há pouco falei em perigo. Ora, o que me parece melhor realizar em cena essa ideia de perigo é o imprevisto objetivo, o imprevisto não nas situações mas nas coisas, a passagem intempestiva, brusca, de uma imagem pensada para uma imagem verdadeira; por exemplo, um homem que blasfema vê materializar-se bruscamente à sua frente, com traços reais, a imagem de sua blasfêmia (mas com a condição, acrescento, de que essa imagem não seja inteiramente gratuita, de que ela provoque o aparecimento, por sua vez, de outras imagens da mesma veia espiritual, etc).
Outro exemplo seria o aparecimento de um Ser inventado, feito de pano e de madeira, inteiramente artificial, não correspondendo a nada, e no entanto inquietante por natureza, capaz de reintroduzir em cena um pequeno sopro do grande medo metafísico que é a base de todo o teatro antigo.
Os balineses, com seu dragão inventado, como todos os orientais, não perderam o sentido desse medo misterioso que sabem ser um dos elementos mais atuantes (e aliás essencial) do teatro, quando colocado em seu verdadeiro plano.
É que a verdadeira poesia, quer queiramos ou não, é metafísica, e é seu próprio alcance metafísico, eu diria, seu grau de eficácia metafísica, que constitui todo o seu verdadeiro valor.
Essa é a segunda ou terceira vez que falo aqui em metafísica. Ainda há pouco, a respeito da psicologia, eu falava de ideias mortas e sinto que muitos se veriam tentados a dizer-me que, se existe no mundo uma ideia inumana, uma ideia ineficaz e morta e que pouco diz, mesmo ao espírito, essa ideia é exatamente a da metafísica.
Isso está ligado, como diz René Guénon, “a nosso modo puramente ocidental, a nosso modo antipoético e truncado de considerar os princípios (fora do estado espiritual enérgico e maciço que lhes corresponde)”.
No teatro oriental de tendências metafísicas, oposto ao teatro ocidental de tendências psicológicas, todo esse amontoado compacto de gestos, signos, atitudes, sons, que constitui a linguagem da realização e da cena, essa linguagem que desenvolve todas as suas consequências físicas e poéticas em todos os planos da consciência e em todos os sentidos, leva necessariamente o pensamento a assumir atitudes profundas que são o que poderíamos chamar de metafísica em atividade.
Logo retomarei esse ponto. No momento, voltemos ao teatro conhecido.
Há alguns dias, eu assistia a uma discussão sobre o teatro. Vi uma espécie de homens-serpentes, também chamados de autores dramáticos, explicar-me o modo de insinuar uma peça a um diretor, como as pessoas da história que insulavam veneno no ouvido de seus rivais. Tratava-se, creio, de determinar a orientação futura do teatro e, em outras palavras, seu destino.
Não se determinou coisa alguma e em momento algum se falou do verdadeiro destino do teatro, isto é, daquilo que, por definição e por essência, o teatro está destinado a representar, nem dos meios de que ele dispõe para isso. Em compensação, o teatro me foi apresentado como uma espécie de mundo gelado, com artistas encerrados em gestos que doravante já não lhes servirão para nada, com entonações sólidas já caindo aos pedaços, com músicas reduzidas a uma espécie de enumeração cifrada cujos signos começam a se apagar, com uma espécie de lampejos luminosos, como que solidificados, que correspondem a esboços de movimentos – e em torno de tudo isso um borboletear de homens vestidos de preto que disputam em torno do braseiro os ferros incandescentes para marcar sua posse. Como se a máquina teatral estivesse doravante reduzida àquilo que a cerca. E é por estar reduzida ao que a cerca e por estar o teatro reduzido a tudo o que não é mais teatro que essa atmosfera fede para as narinas de pessoas de bom gosto.
Para mim, o teatro se confunde com suas possibilidades de realização quando delas se extraem as consequências poéticas extremas, e as possibilidades de realização do teatro pertencem totalmente ao domínio da encenação, considerada como uma linguagem no espaço e em movimento.
Ora, extrair as consequências poéticas extremas dos meios de realização é fazer a metafísica desses meios, e creio que ninguém se oporá a este modo de considerar a questão.
E fazer a metafísica da linguagem, dos gestos, das atitudes, do cenário, da música sob o ponto de vista teatral é, ao que me parece, considerá-los com relação a todas as formas que eles podem ter de se encontrar com o tempo e com o movimento.
Dar exemplos objetivos dessa poesia consecutiva às diversas formas que podem ter um gesto, uma sonoridade, uma entonação ao se apoiar com maior ou menor insistência nesta ou naquela parte do espaço, neste ou naquele momento, parece-me tão difícil quanto comunicar com palavras o sentimento da qualidade particular de um som ou do grau e da qualidade de uma dor física. Isso depende da realização e só pode ser determinado em cena.
Eu deveria agora passar em revista todos os meios de expressão que o teatro (ou a encenação que, no sistema que acabo de expor, confunde-se com ele) contém. Isso me levaria longe demais; ficarei apenas com um ou dois exemplos.
Primeiro, a linguagem articulada.
Fazer a metafísica da linguagem articulada é fazer com que a linguagem sirva para expressar aquilo que habitualmente ela não expressa: é usá-la de um modo novo, excepcional e incomum, é devolver-lhe suas possibilidades de comoção física, é dividi-la e distribuí-la ativamente no espaço, é tomar as entonações de uma maneira concreta absoluta e devolver-lhes o poder que teriam de dilacerar e manifestar realmente alguma coisa, é voltar-se contra a linguagem e suas fontes rasteiramente utilitárias, poderse-ia dizer alimentares, contra suas origens de animal acuado, é, enfim, considerar a linguagem sob a forma do Encantamento.
Tudo neste modo poético e ativo de considerar a expressão em cena nos leva a nos afastarmos da acepção humana, atual e psicológica do teatro para reencontrar sua acepção religiosa e mística, cujo sentido nosso teatro perdeu completamente.
Aliás, o fato de bastar alguém pronunciar as palavras religioso ou místico para ser confundido com um sacristão ou um bonzo profundamente iletrado e alienado de um templo budista, que serve no máximo para girar as matracas das preces, mostra nossa incapacidade de extrair de uma palavra todas as suas consequências e nossa profunda ignorância do espírito de síntese e de analogia. Isso talvez signifique que no ponto em que estamos perdemos qualquer contato com o verdadeiro teatro, já que o limitamos ao domínio do que o pensamento cotidiano pode alcançar, ao domínio conhecido ou desconhecido da consciência. E se nos dirigimos teatralmente ao inconsciente é apenas para lhe arrancar o que ele conseguiu recolher (ou ocultar) da experiência acessível e cotidiana.
Por outro lado, o fato de se afirmar que uma das razões da eficácia física sobre o espírito, da força de atuação direta e representada em imagens de certas realizações do teatro oriental como as do Teatro de Bali é que esse teatro apoia-se em tradições milenares, que ele conservou intactos os segredos de utilização dos gestos, das entonações, da harmonia, em relação aos sentidos e em todos os planos possíveis – isso não condena o teatro oriental mas condena a nós e, conosco, este estado de coisas em que vivemos e que deve ser destruído, destruído com aplicação e maldade, em todos os planos e em todos os níveis em que ele atrapalha o livre exercício do pensamento.
O TEATRO ALQUÍMICO
Entre o princípio do teatro e o da alquimia há uma misteriosa identidade de essência. É que o teatro, assim como a alquimia, quando considerado em seu princípio e subterraneamente, está vinculado a um certo número de bases, que são as mesmas para todas as artes e que visam, no domínio espiritual e imaginário, uma eficácia análoga àquela que, no domínio físico, permite realmente a produção de ouro. Mas entre o teatro e a alquimia há ainda uma semelhança maior e que metafisicamente leva muito mais longe. É que tanto a alquimia quanto o teatro são artes por assim dizer virtuais e que carregam em si tanto sua finalidade quanto sua realidade.
Enquanto a alquimia, através de seus símbolos, é como um Duplo espiritual de uma operação que só tem eficácia no plano da matéria real, também o teatro deve ser considerado como o Duplo não dessa realidade cotidiana e direta da qual ele aos poucos se reduziu a ser apenas uma cópia inerte, tão inútil quanto edulcorada, mas de uma outra realidade perigosa e típica, em que os Princípios, como golfinhos, assim que mostram a cabeça, apressam-se a voltar à escuridão das águas.
Ora, essa realidade não é humana mas inumana, e nela o homem, com seus costumes ou com seu caráter, conta muito pouco, é preciso que se diga. E é como se do homem pudesse restar apenas a cabeça, uma espécie de cabeça absolutamente desnuda, maleável e orgânica, em que sobraria apenas matéria formal suficiente para que os princípios pudessem aí desenvolver suas consequências de uma maneira sensível e acabada.
Antes de continuar, aliás, é preciso notar a estranha afeição que todos os livros dedicados à matéria alquímica professam pelo termo teatro, como se seus autores tivessem sentido desde logo tudo o que existe de representativo, ou seja, de teatral, na série completa dos símbolos através dos quais se realiza espiritualmente a Grande Obra, enquanto ela se realiza real e materialmente, e também nos desvios e digressões do espírito mal informado, em torno dessas operações e na enumeração “dialética”, por assim dizer, de todas as aberrações, fantasias, miragens e alucinações pelas quais não podem deixar de passar os que tentam essas operações com meios puramente humanos.
Todos os verdadeiros alquimistas sabem que o símbolo alquímico é uma miragem assim como o teatro é uma miragem. E esta perpétua alusão às coisas e ao princípio do teatro que se encontra em quase todos os livros alquímicos deve ser entendida como o sentimento (do qual os alquimistas tinham a maior consciência) da identidade que existe entre o plano no qual evoluem as personagens, os objetos, as imagens, e de um modo geral tudo o que constitui a realidade virtual do teatro, e o plano puramente suposto e ilusório no qual evoluem os símbolos da alquimia.
Esses símbolos, que indicam o que se poderia chamar de estados filosóficos da matéria, já colocam o espírito no caminho da purificação ardente, da unificação e da emaciação num sentido horrivelmente simplificado e puro das moléculas naturais; no caminho da operação que permite, à força de despojamento, repensar e reconstituir os sólidos segundo a linha espiritual de equilíbrio em que enfim voltam a se tornar ouro. As pessoas não costumam perceber como esse simbolismo material que serve para designar esse misterioso trabalho corresponde, no espírito, a um simbolismo paralelo, a uma ativação de ideias e aparências através das quais tudo o que no teatro é teatral se designa e pode ser distinguido filosoficamente.
Explico. E talvez já se tenha compreendido que o gênero de teatro a que nos referimos nada tem a ver com esse tipo de teatro social ou de atualidade, que muda com as épocas e onde as ideias que originalmente animavam o teatro só podem ser encontradas em caricaturas de gestos, irreconhecíveis de tanto que tiveram seu sentido alterado.
Acontece com as ideias do teatro típico e primitivo o mesmo que acontece com as palavras, que, com o tempo, deixaram de produzir imagem e que, em vez de serem um meio de expansão, já não são mais do que um beco sem saída e um cemitério para o espírito.
Talvez antes de continuar nos seja solicitada uma definição do que entendemos por teatro típico e primitivo. E com isso entramos no âmago do problema.
De fato, se colocarmos a questão das origens e da razão de ser (ou da necessidade primordial) do teatro, encontraremos de um lado, e metafisicamente, a materialização ou antes a exteriorização de uma espécie de drama essencial que conteria de um modo simultaneamente múltiplo e único os princípios essenciais de todo drama, já orientados e divididos, não o suficiente para perderem sua natureza de princípios, mas o suficiente para conterem de modo substancial e ativo, isto é, cheio de descargas, infinitas perspectivas de conflitos. Analisar filosoficamente um drama assim é impossível, e é apenas poeticamente, e arrancando dos princípios de todas as artes o que podem ter de comunicativo e magnético, que podemos, através de formas, sons, músicas e volumes, evocar, passando por todas as semelhanças naturais das imagens e das similitudes, não direções primordiais do espírito, que nosso intelectualismo lógico e abusivo reduziria a inúteis esquemas, mas espécies de estados de tão intensa acuidade, de uma argúcia tão absoluta, que é possível sentir através dos estremecimentos da música e da forma as ameaças subterrâneas de um caos tão decisivo quanto perigoso.
E sente-se perfeitamente que esse drama essencial existe, e é à imagem de algo mais sutil do que a própria Criação, que se deve representar como o resultado de uma Vontade una – e sem conflito.
É preciso acreditar que o drama essencial, aquele que estava na base de todos os Grandes Mistérios, esposa o segundo momento da Criação, o da dificuldade e do Duplo, o da matéria e do adensamento da ideia.
Parece que onde reinam a simplicidade e a ordem não pode haver nem drama nem teatro, e o verdadeiro teatro nasce, aliás como a poesia mas por outras vias, de uma anarquia que se organiza, após lutas filosóficas que são o lado apaixonante dessas primitivas unificações.
Ora, esses conflitos que o Cosmos em ebulição nos oferece de uma maneira filosoficamente alterada e impura são os que a alquimia nos propõe em todo seu intelectualismo rigoroso, uma vez que ela nos permite reatingir o sublime, mas com drama, após a destruição minuciosa e exacerbada de toda forma insuficientemente apurada, insuficientemente madura, uma vez que faz parte do próprio princípio da alquimia só permitir que o espírito se impulsione depois de passar por todas as canalizações, todas as fundações da matéria existente e de ter refeito esse trabalho em dobro nos limbos incandescentes do
futuro. Pois dir-se-ia que, para merecer o ouro material, o espírito deve primeiro provar a si mesmo que é capaz do outro e que só conquistou este, só o alcançou, aquiescendo a ele, considerando-o como um símbolo segundo da queda que teve de realizar para reencontrar de maneira sólida e opaca a expressão da própria luz, da raridade e da irredutibilidade.
A operação teatral de fazer ouro, pela imensidão dos conflitos que provoca, pela quantidade prodigiosa de forças que ela lança uma contra a outra e que convulsiona, pelo apelo a uma espécie de remistura essencial transbordante de consequências e sobrecarregada de espiritualidade, evoca enfim ao espírito uma pureza absoluta e abstrata, após a qual nada mais existe e que poderíamos conceber como uma espécie de nota limite, apanhada em pleno voo, e que seria como a parte orgânica de uma indescritível vibração.
Os Mistérios Órficos que subjugavam Platão deviam ter, no plano moral e psicológico, um pouco desse aspecto transcendente e definitivo do teatro alquímico e, com elementos de uma extraordinária densidade psicológica, evocar em sentido inverso símbolos da alquimia, que fornecem o meio espiritual para decantar e transfundir a matéria, evocar a transfusão ardente e decisiva da matéria pelo espírito.
Dizem-nos que os Mistérios de Elêusis limitavam-se a encenar um certo número de verdades morais. Creio, antes, que deviam encenar projeções e precipitações de conflitos, lutas indescritíveis de princípios, vistas sob o ângulo vertiginoso e escorregadio em que toda verdade se perde ao realizar a fusão inextrincável e única do abstrato e do concreto, e penso que, através de músicas de instrumentos e de notas, de combinações de cores e formas de que até perdemos a ideia, eles deviam, por um lado, satisfazer a nostalgia da beleza pura cuja realização completa, sonora, límpida e despojada Platão deve ter encontrado pelo menos uma vez neste mundo; por outro lado, deviam resolver através de conjunções inimagináveis e estranhas para nossos cérebros de homens ainda despertos, resolver ou mesmo aniquilar todos os conflitos produzidos pelo antagonismo entre a matéria e o espírito, a ideia e a forma, o concreto e o abstrato, e fundir todas as aparências em uma expressão única que devia ser semelhante ao ouro espiritualizado.
SOBRE O TEATRO DE BALI
O primeiro espetáculo do Teatro de Bali, que tem traços de dança, canto, pantomima, música, e muito pouco do teatro psicológico tal como o entendemos aqui na Europa, recoloca o teatro em seu plano de criação autônoma e pura, sob o ângulo da alucinação e do medo.
É notável que a primeira das pequenas peças que compõem o espetáculo, e que nos faz assistir às admoestações de um pai à filha que se insurge contra as tradições, comece com a entrada em cena de fantasmas ou, se quiserem, que as personagens, homens e mulheres, que servirão ao desenvolvimento de um tema dramático mas familiar, sejam mostradas primeiro em seu estado espectral de personagens, sejam vistas sob o ângulo da alucinação, próprio de toda personagem teatral, antes de se permitir que as situações dessa espécie de esquete simbólico evoluam. Aqui, aliás, as situações são apenas um pretexto. O drama não evolui entre sentimentos mas entre estados de espírito, ossificados e reduzidos a gestos – esquemas. Em suma, os balineses realizam, com o maior rigor, a ideia do teatro puro, onde tudo, tanto concepção como realização, só vale, só existe por seu grau de objetivação em cena. Demonstram vitoriosamente a preponderância absoluta do diretor cujo poder de criação elimina as palavras. Os temas são vagos, abstratos, extremamente gerais. Só lhes dá vida é o desenvolvimento complicado de todos os artifícios cênicos que impõem a nosso espírito como que a ideia de uma metafísica extraída de uma nova utilização do gesto e da voz.
O que há de curioso, de fato, em todos aqueles gestos, atitudes angulosas e brutalmente interrompidas, modulações sincopadas do fundo da garganta, frases musicais que acabam logo, voos de élitros, ruídos de galhos, sons de caixas ocas, rangidos de autômatos, danças de bonecos animados, é que, através desse labirinto de gestos, atitudes, gritos lançados ao ar, através das evoluções e das curvas que não deixam inutilizada nenhuma porção do espaço cênico, surge o sentido de uma nova linguagem física baseada nos signos e não mais nas palavras. Esses atores com suas roupas geométricas parecem hieróglifos animados. E até a forma dessas roupas, deslocando o eixo do porte humano, cria, ao lado das indumentárias desses guerreiros em estado de transe e de guerra perpétua, uma espécie de roupa simbólica, de segunda roupa, que inspira uma ideia intelectual e que se relaciona, através de todos os cruzamentos de suas linhas, com todos os cruzamentos das perspectivas do ar. Estes signos espirituais têm um sentido preciso, que nos atinge apenas intuitivamente mas com violência suficiente para tornar inútil toda tradução numa linguagem lógica e discursiva. E para os amantes do realismo a qualquer preço, que se cansariam dessas eternas alusões a atitudes secretas e distanciadas do pensamento, resta o jogo eminentemente realista do Duplo que se assusta com as aparições do Além. Os tremores, a gritaria pueril, o salto que bate no chão em cadência seguindo o próprio automatismo do inconsciente desencadeado, o Duplo que, num dado momento, se oculta atrás de sua própria realidade, eis uma descrição do medo que vale para todas as latitudes e que mostra que com respeito ao humano tanto quanto ao sobre-humano os orientais estão à nossa frente em matéria de realidade.
Os balineses, que têm gestos e uma variedade de mímicas para todas as circunstâncias da vida, devolvem à convenção teatral seu valor superior, demonstram a eficácia e o valor superiormente atuante de um certo número de convenções bem aprendidas e, sobretudo, magistralmente aplicadas. Uma das razões de nosso prazer diante desse espetáculo sem excessos reside justamente na utilização por esses atores de uma quantidade precisa de gestos seguros, de mímicas experimentadas e adequadas mas, acima de tudo, no invólucro espiritual, no estudo profundo e matizado que presidiu a elaboração dos jogos de expressão, dos signos eficazes e cuja eficácia nos dá a impressão de não se ter esgotado ao longo dos milênios. O revirar mecânico de olhos, os trejeitos com os lábios, a dosagem das crispações musculares, de efeitos metodicamente calculados e que eliminam qualquer recurso à improvisação espontânea, as cabeças que fazem um movimento horizontal parecendo rolar de um ombro ao outro como se estivessem encaixadas em trilhos, tudo isso, que responde a necessidades psicológicas imediatas, responde além disso a uma espécie de arquitetura espiritual, feita por gestos e mímicas mas também pelo poder evocador de um ritmo, pela qualidade musical de um movimento físico, pelo acorde paralelo e admiravelmente fundido de um tom. É possível que isso choque nosso sentido europeu da liberdade cênica e da inspiração espontânea, mas que não se diga que essa matemática cria secura e uniformidade. A maravilha é que uma sensação de riqueza, de fantasia, de generosa prodigalidade emana desse espetáculo dirigido com uma minúcia e uma consciência perturbadoras. E as correspondências mais imperiosas difundem-se continuamente da vista ao ouvido, do intelecto à sensibilidade, do gesto de uma personagem à evocação dos movimentos de uma planta através do grito de um instrumento. Os suspiros de um instrumento de sopro prolongam as vibrações de cordas vocais, com tal senso de identidade que não sabemos se é a própria voz que se prolonga ou o sentido que, desde os primórdios, absorveu a voz. Um jogo de juntas, o ângulo musical que o braço forma com o antebraço, um pé que cai, um joelho que se dobra, dedos que parecem se desprender da mão, tudo isso é para nós como um eterno jogo de espelhos em que os membros humanos parecem enviar-se ecos, músicas em que as notas da orquestra, em que a respiração dos instrumentos de sopro evocam a ideia de um intenso viveiro cujo borboletear são os próprios atores. Nosso teatro, que nunca teve ideia dessa metafísica de gestos, que nunca soube fazer a música servir a fins dramáticos tão imediatos, tão concretos, nosso teatro puramente verbal e que ignora tudo o que constitui o teatro, ou seja, tudo o que está no ar do palco, que se mede com e se cerca de ar, que tem uma densidade no espaço – movimentos, formas, cores, vibrações, atitudes, gritos -, poderia, diante do que não se mede e que se relaciona com o poder de sugestão do espírito, pedir ao Teatro de Bali uma lição de espiritualidade. Esse teatro puramente popular, e não sagrado, nos dá uma ideia extraordinária do nível intelectual de um povo, que toma por fundamento de seus júbilos cívicos as lutas de uma alma presa das larvas e dos fantasmas do Além. Pois, em suma, é mesmo de uma luta puramente interior que se trata na última parte do espetáculo. E de passagem é possível observar o grau de suntuosidade teatral que os balineses foram capazes de dar ao espetáculo. O sentido das necessidades plásticas da cena que se pode ver só é igualado por seu conhecimento do medo físico e dos meios de desencadeá-lo. E no aspecto verdadeiramente aterrador de seu diabo (provavelmente um diabo tibetano) há uma semelhança impressionante com o aspecto de um certo fantoche de nossa recordação, com as mãos aumentadas por uma gelatina branca, unhas de folhas verdes e que era o mais belo ornamento de uma das primeiras peças encenadas pelo Teatro Alfred Jarry.
De fato, o que há de mais impressionante nesse espetáculo – que desnorteia nossas concepções ocidentais do teatro a ponto de muitos lhe negarem qualquer qualidade teatral, quando se trata na verdade da mais bela manifestação de teatro que nos é dado ver aqui -, o que há de impressionante e de desconcertante, para nós, europeus, é a intelectualidade admirável que se sente crepitar em toda a trama cerrada e sutil dos gestos, nas modulações infinitamente variadas da voz, nessa chuva sonora, como uma imensa floresta que transpira e resfolega, e no entrelaçado também sonoro dos movimentos. De um gesto a um grito ou a um som não há passagem: tudo acontece como que através de estranhos canais cavados no próprio espírito!
Há toda uma profusão de gestos rituais cuja chave não temos e que parecem obedecer a determinações musicais extremamente precisas, com alguma coisa a mais que não pertence em geral à música e que parece destinada a envolver o pensamento, a persegui-lo, a conduzi-lo através de uma malha inextricável e certa. Tudo nesse teatro, de fato, é calculado com uma minúcia adorável e matemática. Nada é deixado ao acaso ou à iniciativa pessoal. É uma espécie de dança superior, na qual os dançarinos seriam antes de tudo atores.
A todo momento podemos vê-los efetuando uma espécie de lento restabelecimento. Quando acreditamos estarem perdidos no meio de um labirinto inextricável de medidas, quando os sentimos prestes a mergulhar na confusão, têm uma maneira própria de restabelecer o equilíbrio, um apoio especial do corpo, as pernas torcidas, dando a impressão de um pano muito molhado que será torcido pouco a pouco; e em três passos finais, que sempre os conduzem inelutavelmente para o meio da cena, o ritmo suspenso se completa, a medida se esclarece.
Tudo neles, assim, é regrado, impessoal; não há um jogo de músculos, um revirar de olhos que não pareça pertencer a uma espécie de matemática refletida que tudo conduz e pela qual tudo passa. E o estranho é que nessa despersonalização sistemática, nesses jogos de fisionomia puramente musculares, aplicados sobre os rostos como se fossem máscaras, tudo produz o efeito máximo.
Uma espécie de terror nos assalta quando vemos esses seres mecanizados, aos quais nem suas alegrias nem suas dores parecem pertencer propriamente, mas nos quais tudo parece obedecer a ritos conhecidos e como que ditados por inteligências superiores. Afinal, é essa impressão de Vida Superior e ditada que nos impressiona mais nesse espetáculo semelhante a um rito que estaríamos profanando. De um rito sagrado ele tem a solenidade; o hieratismo das roupas dá a cada ator como que um duplo corpo, duplos membros – e em sua roupa o artista embrulhado parece ser apenas a efígie de si mesmo.
Há ainda o ritmo amplo, fragmentado, da música – música extremamente insistente, murmurante e frágil, em que parece que se trituram os metais mais preciosos, em que se desencadeiam, como em estado natural, fontes de água, progressões ampliadas de enfiadas de insetos através da vegetação, em que acreditamos ver captado o próprio som da luz, em que os ruídos das solidões espessas parecem reduzir-se a voos de cristais, etc, etc.
Todos esses ruídos estão, aliás, ligados a movimentos, são como o acabamento natural de gestos que têm a mesma qualidade que eles; e isso com tal sentido da analogia musical, que o espírito acaba sendo obrigado a confundir, a atribuir à gesticulação articulada dos artistas as propriedades sonoras da orquestra, e vice-versa.
Uma impressão de inumanidade, de divino, de revelação milagrosa se desprende ainda da requintada beleza dos penteados das mulheres: da série de círculos luminosos sobrepostos, feitos de combinações de plumas ou pérolas multicoloridas, de cores tão belas que sua reunião tem o ar de revelação, e cujas arestas tremem ritmadamente, parecem responder com espírito aos tremores do corpo. E há ainda os outros penteados de aspecto sacerdotal, na forma de tiaras e encimados por penachos de flores rígidas, cujas cores se opõem aos pares e se casam estranhamente.
Este conjunto lancinante, cheio de feixes, fugas, canais, desvios em todos os sentidos da percepção externa e interna, compõe uma ideia soberana do teatro, ideia que nos parece conservada através dos séculos para nos ensinar aquilo que o teatro nunca deveria ter deixado de ser. E essa impressão é duplicada pelo fato de que esse espetáculo – popular em Bali, ao que parece, e profano – é como o pão elementar das sensações artísticas daquela gente.
Pondo de lado a prodigiosa matemática desse espetáculo, aquilo que parece feito para mais nos surpreender e espantar é o aspecto revelador da matéria que parece de repente se disseminar em signos para nos ensinar a identidade metafísica do concreto e do abstrato, e ensiná-lo através de gestos feitos para durar. O aspecto realista nós encontramos em nosso país, mas, aqui, elevado à enésima potência, e definitivamente estilizado.
Neste teatro, toda criação provém da cena, encontra sua tradução e suas origens num impulso psíquico secreto que é a Palavra anterior às palavras.
É um teatro que elimina o autor em proveito daquilo que em nosso jargão ocidental do teatro chamaríamos de diretor; mas aqui o diretor é uma espécie de ordenador mágico, um mestre de cerimônias sagradas. E a matéria sobre a qual ele trabalha, os temas que faz palpitar não são dele mas dos deuses. Eles provêm, ao que parece, das junções primitivas da Natureza que um Espírito duplo favoreceu.
Ele mexe com o MANIFESTADO.
É uma espécie de Física primeira, da qual o Espírito nunca se afastou.
Num espetáculo como o do Teatro de Bali existe algo que suprime a diversão, um aspecto de jogo artificial inútil, de jogo de uma noite, que é a característica de nosso teatro. Suas realizações são talhadas em plena matéria, em plena vida, em plena realidade. Há nelas algo do cerimonial de um rito religioso, no sentido de que extirpam do espírito de quem as observa toda ideia de simulação, de imitação barata da realidade. Essa gesticulação densa que presenciamos tem um objetivo, um objetivo imediato para o qual ela tende através de meios eficazes e cuja eficácia somos capazes de sentir de imediato. Os pensamentos que ela visa, os estados de espírito que procura criar, as soluções místicas que propõe são mobilizados, levantados, alcançados sem demora e sem rodeios. Tudo isso parece um exorcismo para fazer nossos demônios AFLUÍREM.
Há um ressoar grave das coisas do instinto nesse teatro, mas levadas a tal ponto de transparência, inteligência, ductibilidade, em que parecem nos proporcionar de um modo físico algumas das percepções mais secretas do espírito.
Os temas propostos partem, por assim dizer, da cena. Eles são tais, estão num tal ponto de materialização objetiva, que não podemos imaginá-los, por mais que nos aprofundemos, fora da perspectiva densa, do globo fechado e limitado do palco.
Esse espetáculo nos oferece uma maravilhosa composição de imagens cênicas puras, para cuja compreensão toda uma nova linguagem parece ter sido inventada: os atores com suas roupas compõem verdadeiros hieroglifos que vivem e se movem. E esses hieroglifos de três dimensões são, por sua vez, sobrebordados por um certo número de gestos, signos misteriosos que correspondem a uma certa realidade fabulosa e obscura que nós, ocidentais, definitivamente recalcamos.
Há algo que participa do espírito de uma operação mágica nessa intensa liberação de signos, primeiro retidos e depois repentinamente lançados ao ar. Um fervilhar caótico, cheio de referências, e às vezes estranhamente ordenado, crepita nessa efervescência de ritmos pintados, em que a pausa funciona o tempo todo e intervém como um silêncio bem calculado.
Desta ideia de um teatro puro que entre nós é apenas teórica, e à qual ninguém jamais tentou dar a menor realidade, o Teatro de Bali nos propõe uma realização estupefaciente, no sentido de que ela suprime toda possibilidade de recurso às palavras para elucidar os temas mais abstratos – e inventa uma linguagem de gestos feitos para evoluir no espaço e que não podem ter significado fora dele.
O espaço da cena é utilizado em todas as suas dimensões e, por assim dizer, em todos os planos possíveis. Pois ao lado de um agudo senso da beleza plástica esses gestos sempre têm por objetivo final a elucidação de um estado ou de um problema do espírito.
Pelo menos, é assim que os vemos.
Não se perde nenhum ponto do espaço e, ao mesmo tempo, nenhuma sugestão possível. E há um sentido como que filosófico do poder que impede a natureza de, subitamente, precipitar-se no caos.
Sente-se no Teatro de Bali um estado anterior à linguagem e que pode escolher sua linguagem: música, gestos, movimentos, palavras.
Não há dúvida de que esse aspecto de teatro puro, essa física do gesto absoluto que é ideia e que obriga as concepções do espírito a passar, para serem percebidas, pelos dédalos e meandros fibrosos da matéria, tudo isso nos dá como que uma ideia nova do que pertence propriamente ao domínio das formas e da matéria manifestada. Aqueles que conseguem dar um sentido místico à simples forma de uma roupa, que, não contentes em colocar ao lado do homem seu Duplo, atribuem a cada homem vestido o duplo de suas roupas; aqueles que atravessam essas roupas ilusórias, essas roupas número dois, com um sabre que lhes dá o aspecto de grandes borboletas atingidas em pleno ar, essas pessoas, muito mais do que nós, têm o sentido inato do simbolismo absoluto e mágico da natureza e nos dão uma lição que nossos técnicos de teatro certamente não serão capazes de aproveitar.
Esse espaço de ar intelectual, esse jogo psíquico, esse silêncio pleno de pensamentos que existe entre os membros de uma frase escrita é traçado, aqui, no ar cênico, entre os membros, o ar e as perspectivas de um certo número de gritos, cores e movimentos.
Nas realizações do Teatro de Bali, o espírito tem o sentimento de que a concepção primeiro se defrontou com os gestos, instalou-se no meio de toda uma fermentação de imagens visuais ou sonoras, pensadas como no estado puro. Em resumo e para ser mais claro, deve ter havido algo muito semelhante ao estado musical para essa encenação em que tudo o que é concepção do espírito é apenas um pretexto, uma virtualidade cujo duplo produziu essa intensa poesia cênica, essa linguagem espacial e colorida.
O jogo perpétuo de espelhos que vai de uma cor a um gesto e de um grito a um movimento nos conduz sem cessar através de caminhos abruptos e duros para o espírito, mergulha-nos no estado de incerteza e angústia inefável que é próprio da poesia.
Desses estranhos jogos de mãos voadoras como insetos na tarde verde emana uma espécie de horrível obsessão, de inesgotável raciocínio mental, como que de um espírito incessantemente ocupado a se situar no dédalo de seu inconsciente.
Aliás, o que esse teatro nos torna palpáveis e circunscreve com signos concretos são menos as coisas do sentimento que as da inteligência.
E é através de caminhos intelectuais que ele nos introduz à reconquista dos signos do que é.
Desse ponto de vista é altamente significativo o gesto do dançarino central que sempre toca o mesmo ponto de sua cabeça, como se quisesse localizar o lugar e a vida de um certo olho central, qual um ovo intelectual.
Aquilo que é uma alusão colorida a impressões físicas da natureza é retomado no plano dos sons e o próprio som nada mais é que a representação nostálgica de outra coisa, de uma espécie de estado mágico em que as sensações tornaram-se tais e tão sutis que podem ser visitadas pelo espírito. E mesmo as harmonias imitativas, o ruído da serpente de guizo, o estalar das carapaças de insetos uma contra a outra evocam a clareira de uma formigante paisagem prestes a precipitar-se no caos. – E os artistas vestidos com roupas brilhantes e cujos corpos sob as vestes parecem envoltos em cueiros! Há algo de umbilical, de larvar em suas evoluções. E é preciso observar ao mesmo tempo o aspecto hieroglífico de suas roupas, cujas linhas horizontais ultrapassam o corpo, em todos os sentidos. São como grandes insetos cheios de linhas e de segmentos feitos para religá-los a não se sabe que perspectiva da natureza, da qual parecem ser apenas uma geometria destacada.
As roupas que delimitam seus deslocamentos abstratos quando caminham, e seus estranhos entrecruzamentos de pés!
Cada um de seus movimentos traça uma linha no espaço, completa não se sabe qual figura rigorosa, de um hermetismo bem calculado – e, nesta, um gesto imprevisto da mão põe um ponto.
E as roupas de curvas mais altas do que as nádegas e que as mantêm como que suspensas no ar, como que pregadas no fundo do teatro, e que prolongam cada um de seus saltos como um voo.
Os gritos das entranhas, os olhos que reviram, a abstração contínua, os ruídos de galhos, os ruídos de cortar
e arrastar madeira, tudo isso no espaço imenso dos sons espalhados e que são vomitados por várias fontes, tudo isso concorre para fazer levantar-se em nosso espírito, para cristalizar como que uma nova concepção, concreta, eu ousaria dizer, do abstrato.
E deve-se notar que essa abstração, que parte de um maravilhoso edifício cênico para retornar ao pensamento, quando encontra em voo impressões do mundo da natureza agarra-as sempre no ponto em que dão início a seu agrupamento molecular; isto significa que apenas um gesto ainda nos separa do caos.
A última parte do espetáculo, diante de tudo de imundo, brutal, infamante, que se tritura em nossos palcos europeus, é de um adorável anacronismo. Não sei que teatro ousaria encerrar assim e como que ao natural as agonias de uma alma nas garras dos fantasmas do Além.
Eles dançam, e esses metafísicos da desordem natural que nos restituem cada átomo de som, cada percepção fragmentária como que prestes a retornar a seu princípio, souberam criar entre o movimento e o ruído conexões tão perfeitas que os ruídos de madeira oca, de caixas sonoras, de instrumentos vazios parecem ser executados por dançarinos de cotovelos vazios, com seus membros de madeira oca.
De repente nos vemos em plena luta metafísica e o lado endurecido do corpo em transe, retesado pelo refluxo das forças cósmicas que o assediam, é admiravelmente traduzido por essa dança frenética e ao mesmo tempo cheia de rigidez e ângulos em que se pode sentir repentinamente que começa a queda livre do espírito.
Dir-se-ia que são ondas de matéria que curvam com precipitação suas cristas umas sobre as outras e que açorrem de todos os lados do horizonte para se inserirem numa porção ínfima de frêmito, de transe – e recobrir o vazio do medo.
Existe um absoluto nessas perspectivas construídas, uma maneira de verdadeiro absoluto físico que apenas os orientais são capazes de sonhar – é nisso, é na altura e na audácia refletida de seus objetivos, que essas concepções opõem-se a nossas concepções europeias do teatro, muito mais do que pela estranha perfeição de suas realizações.
Os adeptos da divisão e da compartimentação dos gêneros podem fingir que veem apenas dançarinos nos magníficos artistas do Teatro de Bali, dançarinos encarregados de figurar não se sabe muito bem que Mitos, cuja elevação torna o nível de nosso teatro ocidental moderno de uma grosseria e de uma puerilidade inomináveis. A verdade é que o Teatro de Bali nos propõe e nos traz montados temas do teatro puro aos quais a realização cênica confere um denso equilíbrio, uma gravitação inteiramente materializada.
Tudo isso se banha numa intoxicação profunda que nos restitui os próprios elementos do êxtase, e no êxtase reencontramos o fervilhar seco e o roçar mineral das plantas, dos vestígios, das ruínas de árvores iluminadas nas copas.
Toda a bestialidade, toda a animalidade são reduzidas a seu gesto seco: sons da terra que se racha, geada das árvores, bocejos dos animais.
Os pés dos dançarinos, no gesto de afastar as roupas, dissolvem e reviram pensamentos, sensações em estado puro.
E sempre a confrontação da cabeça, o olho de Ciclope, o olho interior do espírito que a mão direita procura.
Mímica de gestos espirituais que escandem, podam, fixam, afastam e subdividem sentimentos, estados de alma, ideias metafísicas.
Esse teatro de quintessência onde as coisas realizam estranhas meias-voltas antes de voltar à abstração.
Seus gestos caem tão a propósito sobre o ritmo de madeira, de caixas ocas, escandem-no e o captam no ar com tal segurança e, ao que parece, em tais arestas, que parece que é o próprio vazio de seus membros ocos que a música escande.
O olho estratificado, lunar também das mulheres.
O olho de sonho que parece nos absorver e diante do qual nós mesmos parecemos fantasmas.
Satisfação integral dos gestos de dança, dos pés giratórios que misturam estados de alma, das mãozinhas voadoras, das palmadas secas e precisas.
Assistimos a uma alquimia mental que de um estado de espírito faz um gesto, o gesto seco, despojado, linear, que todos os nossos atos poderiam ter se tendessem para o absoluto.
Às vezes esse maneirismo, esse hieratismo excessivo, com seu alfabeto rolante, com seus gritos de pedras que se fendem, com seus ruídos de galhos, seus ruídos de corte e rolar de madeira, compõe no ar, no espaço, tanto visual quanto sonoro, uma espécie de sussurro material e animado. E num instante dá-se a identificação mágica: SABEMOS QUE SOMOS NÓS QUE ESTAMOS FALANDO.
Quem, após a formidável batalha entre Adeorjana com o Dragão, ousará dizer que o teatro inteiro não está em cena, ou seja, fora das situações e das palavras?
As situações dramáticas e psicológicas passaram para a própria mímica do combate, que é função do jogo atlético e místico dos corpos – e da utilização, ouso dizer, ondulatória da cena, cuja enorme espiral se revela plano a plano.
Os guerreiros entram na floresta mental com ribombos de medo; um imenso arrepio, uma volumosa rotação como que magnética apodera-se deles, em quem sentimos que se precipitam meteoros animais ou minerais.
É mais do que uma tempestade física, é um trituramento do espírito significado pelo tremor esparso de seus membros e de seus olhos que se reviram. A frequência sonora de sua cabeça eriçada é, por vezes, atroz; e a música por trás deles oscila e ao mesmo tempo alimenta não se sabe muito bem que espaço onde pedregulhos físicos acabam de rolar.
E atrás do Guerreiro, eriçado pela formidável tempestade cósmica, aparece o Duplo que se empertiga, entregue à puerilidade de seus sarcasmos de escolar e que, erguido pelo contragolpe da ruidosa tormenta, passa inconsciente em meio a encantamentos dos quais nada entendeu.
TEATRO ORIENTAL E TEATRO OCIDENTAL
A revelação do Teatro de Bali foi nos fornecer do teatro uma ideia física e não verbal, na qual o teatro está contido nos limites de tudo o que pode acontecer numa cena, independentemente do texto escrito, ao passo que o teatro tal como o concebemos no Ocidente está ligado ao texto e por ele limitado. Para nós, a Palavra é tudo no teatro e fora dela não há saída; o teatro é um ramo da literatura, uma espécie de variedade sonora da linguagem, e, se admitimos uma diferença entre o texto falado em cena e o texto lido pelos olhos, se encerramos o teatro nos limites daquilo que aparece entre as réplicas, não conseguimos separar o teatro da ideia do texto realizado.
Essa ideia da supremacia da palavra no teatro está tão enraizada em nós, e o teatro nos aparece de tal modo como o simples reflexo material do texto, que tudo o que no teatro ultrapassa o texto, que não está contido em seus limites e estritamente condicionado por ele parece-nos fazer parte do domínio da encenação considerada como alguma coisa inferior em relação ao texto.
Considerando-se essa sujeição do teatro à palavra, é possível perguntar se o teatro por acaso não possuiria sua linguagem própria, se seria absolutamente quimérico considerá-lo como uma arte independente e autônoma, assim como a música, a pintura, a dança, etc, etc.
Em todo caso, constata-se que essa linguagem, se existe, confunde-se necessariamente com a encenação considerada:
1?) Por um lado, como a materialização visual e plástica da palavra.
2?) Como a linguagem de tudo o que se pode dizer e significar numa cena independentemente da palavra, de tudo o que encontra sua expressão no espaço, ou que pode ser atingido ou desagregado por ele.
Quanto à linguagem da encenação considerada como a linguagem teatral pura, trata-se de saber se ela é capaz de atingir o mesmo objeto interior que a palavra; se, do ponto de vista do espírito e teatralmente, ela pode pretender a mesma eficácia intelectual que a linguagem articulada.
Em outras palavras, é possível perguntar se ela pode, não precisar pensamentos, mas fazer pensar, se pode levar o espírito a assumir atitudes profundas e eficazes de seu próprio ponto de vista.
Numa palavra, colocar a questão da eficácia intelectual da expressão pelas formas objetivas, da eficácia intelectual de uma linguagem que utilizaria apenas as formas, ou o som, ou o gesto, é colocar a questão da eficácia intelectual da arte.
Se chegamos ao ponto de atribuir à arte apenas um valor de recreação e repouso, mantendo-a na utilização puramente formal das formas, na harmonia de certas relações exteriores, isso em nada diminui seu valor expressivo profundo; mas a enfermidade espiritual do Ocidente, que é o lugar por excelência onde se pôde confundir a arte com o estetismo, está em pensar que poderia existir uma pintura que só servisse para pintar, uma dança que seria apenas plástica, como se desejássemos cortar as formas da arte, romper seus vínculos com todas as atitudes místicas que podem assumir ao se confrontarem com o absoluto.
Compreende-se portanto que o teatro, na própria medida em que permanece encerrado em sua linguagem, em que fica em correlação consigo mesmo, deve romper com a atualidade; que seu objetivo não é resolver conflitos sociais ou psicológicos e servir de campo de batalha para paixões morais, mas expressar objetivamente verdades secretas, trazer à luz do dia através de gestos ativos a parte de verdade refugiada sob as formas em seus encontros com o Devir.
Fazer isso, ligar o teatro à possibilidade da expressão pelas formas, e por tudo o que for gestos, ruídos, cores, plasticidades, etc, é devolvê-lo à sua destinação primitiva, é recolocá-lo em seu aspecto religioso e metafísico, é reconciliá-lo com o universo.
Mas, dirão muitos, as palavras têm faculdades metafísicas, não é proibido conceber a palavra como o gesto no plano universal, e é nesse plano aliás que ela adquire sua maior eficácia, como força de dissociação das aparências materiais, de todos os estados em que o espírito se estabilizou e teria tendência a repousar. É fácil responder que esse modo metafísico de considerar a palavra não é aquele em que o teatro ocidental a emprega, que ele a usa não como uma força ativa e que parte da destruição das aparências para chegar até o espírito mas, pelo contrário, como um grau terminado do pensamento que se perde ao se exteriorizar.
A palavra no teatro ocidental sempre serve apenas para expressar conflitos psicológicos particulares ao homem e à sua situação na atualidade cotidiana da vida. Seus conflitos são nitidamente justificáveis pelo discurso articulado, e, quer eles permaneçam no domínio psicológico ou saiam dele para voltar ao domínio social, o drama continuará sendo sempre de interesse moral pela maneira como seus conflitos atacarão e desagregarão as personalidades. E será sempre um domínio em que as resoluções verbais da palavra conservarão sua melhor parte. Mas esses conflitos morais, por sua própria natureza, absolutamente não precisam da cena para se resolver. Fazer a linguagem articulada dominar a cena ou a expressão pelas palavras predominar sobre a expressão objetiva dos gestos e de tudo o que atinge o espírito através dos sentidos no espaço é voltar as costas às necessidades físicas da cena e insurgir-se contra suas possibilidades.
O domínio do teatro, é preciso que se diga, não é psicológico mas plástico e físico. E não se trata de saber se a linguagem física do teatro é capaz de chegar às mesmas resoluções psicológicas que a linguagem das palavras, se consegue expressar sentimentos e paixões tão bem quanto as palavras, mas de saber se não existe no domínio do pensamento e da inteligência atitudes que as palavras sejam incapazes de tomar e que os gestos e tudo o que participa da linguagem no espaço atingem com mais precisão do que elas.
Antes de dar um exemplo das relações do mundo físico com estados profundos do pensamento, que nos seja permitido citar a nós mesmos:
“Todo verdadeiro sentimento é na verdade intraduzível. Expressá-lo é traí-lo. Mas traduzi-lo é dissimulá-lo. A expressão verdadeira esconde o que ela manifesta. Opõe o espírito ao vazio real da natureza, criando por reação uma espécie de cheia no pensamento. Ou, se preferirem, em relação à manifestação-ilusão da natureza ela cria um vazio no pensamento. Todo sentimento forte provoca em nós a ideia do vazio. E a linguagem clara que impede esse vazio impede também que a poesia apareça no pensamento.
É por isso que uma imagem, uma alegoria, uma figura que mascare o que gostaria de revelar têm mais significação para o espírito do que as clarezas proporcionadas pelas análises da palavra.
Assim, a verdadeira beleza nunca nos impressiona diretamente. E um pôr do sol é belo por tudo aquilo que nos faz perder.”
Os pesadelos da pintura flamenga nos impressionam pela justaposição, ao lado do mundo verdadeiro, daquilo que é apenas uma caricatura desse mundo; oferecem-nos larvas que poderíamos sonhar. Originam-se nos estados semi-sonhados que provocam os gestos falhos e os engraçados lapsos da linguagem. E ao lado de uma criança esquecida erguem uma harpa que pula; ao lado de um embrião humano nadando em torrentes subterrâneas, mostram, sob uma temível fortaleza, o avanço de um verdadeiro exército. Ao lado da incerteza sonhada, a marcha da certeza, e, para além da luz amarelada de uma caverna, o relâmpago alaranjado de um grande sol de outono prestes a se retirar.
Não se trata de suprimir a palavra do teatro, mas de fazê-la mudar sua destinação, e sobretudo de reduzir seu lugar, de considerá-la como algo que não um meio de conduzir caracteres humanos a seus fins exteriores, uma vez que, no teatro, a questão é sempre o modo pelo qual os sentimentos e as paixões se opõem uns aos outros e de homem para homem, na vida.
Ora, mudar a destinação da palavra no teatro é servir-se dela num sentido concreto e espacial, na medida em que ela se combina com tudo o que o teatro contém de espacial e de significação no domínio concreto; é manipulá-la como um objeto sólido e que abala coisas, primeiro no ar e depois num domínio infinitamente mais misterioso e secreto mas cuja extensão ele mesmo admite, e não é muito difícil identificar esse domínio secreto e extenso com o domínio da anarquia formal, por um lado, mas também, por outro, com a criação formal contínua.
É assim que essa identificação do objeto do teatro com todas as possibilidades da manifestação formal e extensa faz surgir a ideia de uma certa poesia no espaço, que se confunde com a bruxaria.
No teatro oriental de tendências metafísicas, oposto ao teatro ocidental de tendências psicológicas, as formas apoderam-se de seu sentido e de suas significações em todos os planos possíveis; ou, se quisermos, suas consequências vibratórias não são tiradas num único plano, mas em todos os planos do espírito ao mesmo tempo.
E é por essa multiplicidade de aspectos sob os quais as podemos considerar que elas assumem seu poder de abalar e de encantar, que são uma contínua excitação para o espírito. É por não se deter nos aspectos exteriores das coisas num único plano que o teatro oriental não se limita ao simples obstáculo e ao encontro sólido desses aspectos com os sentidos; é por não parar de considerar o grau de possibilidade mental de que se originaram que ele participa da poesia intensa da natureza e conserva suas relações mágicas com todos os graus objetivos do magnetismo universal.
É sob esse ângulo de utilização mágica e de bruxaria que se deve considerar a encenação, não como o reflexo de um texto escrito e de toda a projeção de duplos físicos que provém do texto escrito, mas como a projeção ardente de tudo o que pode ser extraído, como consequências objetivas, de um gesto, uma palavra, um som, uma música e da combinação entre eles. Essa projeção ativa só pode ser feita em cena e suas consequências encontradas diante da cena e na cena; e o autor que usa exclusivamente palavras escritas não tem o que fazer e deve ceder o lugar a especialistas dessa bruxaria objetiva e animada.
ACABAR COM AS OBRAS-PRIMAS
Uma das razões da atmosfera asfixiante, na qual vivemos sem escapatória possível e sem remédio – e pela qual somos todos um pouco culpados, mesmo os mais revolucionários dentre nós -, é o respeito pelo que é escrito, formulado ou pintado e que tomou forma, como se toda expressão já não estivesse exaurida e não tivesse chegado ao ponto em que é preciso que as coisas arrebentem para se começar tudo de novo.
É preciso acabar com a ideia das obras-primas reservadas a uma assim chamada elite e que a massa não entende; e admitir que não existe, no espírito, uma zona reservada, como para as ligações sexuais clandestinas.
As obras-primas do passado são boas para o passado, não para nós. Temos o direito de dizer o que foi dito e mesmo o que não foi dito de um modo que seja nosso, imediato, direto, que responda aos modos de sentir atuais e que todo o mundo compreenda.
É idiotice censurar a massa por não ter o senso do sublime, quando se confunde o sublime com uma de suas manifestações formais que são, aliás, e sempre, manifestações mortas. E se, por exemplo, a massa de hoje já não compreende Édipo rei, ouso dizer que a culpa é de Édipo rei e não da massa.
Em Édipo rei há o tema do Incesto e a ideia de que a natureza zomba da moral; e que em algum lugar há forças errantes com as quais seria bom tomar cuidado; que se dê a essas forças o nome de destino ou outro qualquer.
Além disso, há a presença de uma epidemia de peste que é uma encarnação física dessas forças. Mas tudo isso sob disfarces e numa linguagem que perderam qualquer contato com o ritmo epiléptico e grosseiro deste tempo. Sófocles talvez fale alto, mas com modos que já não são desta época. Ele fala fino demais para esta época, e parece que ele fala de lado.
No entanto, a massa que as catástrofes de estradas de ferro fazem tremer, que conhece os terremotos, a peste, a revolução, a guerra; que é sensível às agonias desordenadas do amor, consegue alcançar todas essas elevadas noções e só pede para tomar consciência delas, mas com a condição de que se saiba falar sua própria linguagem e de que a noção dessas coisas não lhe chegue através de disfarces e palavras adulteradas, pertencentes a épocas mortas que nunca mais poderão ser retomadas.
A massa, hoje como antigamente, é ávida de mistério; ela pede apenas para tomar consciência das leis segundo as quais o destino se manifesta e, talvez, adivinhar o segredo de suas aparições.
Deixemos aos peões a crítica de textos, aos estetas a crítica de formas e reconheçamos que o que já foi dito não está mais por dizer; que uma expressão não vale duas vezes, não vive duas vezes; que toda palavra pronunciada morre e só age no momento em que é pronunciada, que uma forma usada não serve mais e só convida a que se procure outra, e que o teatro é o único lugar do mundo onde um gesto feito não se faz duas vezes.
Se a massa não vai às obras-primas literárias é porque essas obras-primas são literárias, isto é, fixadas; e fixadas em formas que já não respondem às necessidades do tempo.
Longe de acusar a massa e o público, devemos acusar o anteparo formal que interpomos entre nós e a massa, e essa forma de idolatria nova, essa idolatria das obras-primas fixadas, que é um dos aspectos do conformismo burguês.
Esse conformismo que nos faz confundir o sublime, as ideias, as coisas com as formas que tomaram através do tempo e em nós mesmos – em nossas mentalidades de esnobes, de preciosos e estetas que o público já não compreende.
Nisso tudo, será inútil acusar o mau gosto do público que se deleita com insanidades, enquanto não se mostrar ao público um espetáculo válido; e desafio a que me seja mostrado aqui um espetáculo válido, e válido no sentido supremo do teatro, depois dos últimos grandes melodramas românticos, isto é, há cem anos.
O público que toma o falso por verdadeiro tem o senso do verdadeiro e sempre reage diante do verdadeiro quando colocado à sua frente. Não é porém em cena que se deve procurá-lo hoje, mas na rua; e, ofereça-se à massa das ruas uma ocasião para mostrar sua dignidade humana, que ela a mostrará.
Se a massa se desacostumou de ir ao teatro; se acabamos todos por considerar o teatro como uma arte inferior, um modo de distração vulgar, e por utilizá-lo como exutório para nossos maus instintos, foi por tanto nos dizerem que isso era teatro, ou seja, mentira e ilusão. Foi por nos habituarem desde há quatrocentos anos, desde a Renascença, a um teatro puramente descritivo e narrativo, que narra a psicologia.
Foi porque se empenharam em fazer viver, em cena, seres plausíveis mas desligados, com o espetáculo de um lado e o público do outro – foi por se mostrar à massa apenas o espelho daquilo que ela é.
O próprio Shakespeare é responsável por esta aberração e degradação, por essa ideia desinteressada do teatro que quer que uma representação teatral deixe o público intacto, sem que uma imagem lançada provoque qualquer abalo no organismo, imprimindo nele uma marca que não mais se apagará.
Se em Shakespeare o homem às vezes se preocupa com aquilo que o ultrapassa, trata-se sempre, definitivamente, das consequências dessa preocupação no homem, isto é, a psicologia.
A psicologia que se empenha em reduzir o desconhecido ao conhecido, ou seja, ao cotidiano e ao comum, é a causa dessa diminuição e desse desperdício assustador de energia, que me parece ter chegado ao último grau. E me parece que tanto o teatro como nós mesmos devemos acabar com a psicologia.
Creio, aliás, que a esse respeito estamos todos de acordo e que não é preciso descer até o repugnante teatro moderno e francês para condenar o teatro psicológico.
Histórias de dinheiro, de angústias por causa de dinheiro, de arrivismo social, de agonias amorosas em que o altruísmo nunca interfere, de sexualidades polvilhadas de um erotismo sem mistérios não são do domínio do teatro quando são psicologia. Essas angústias, esse estupro, esses cios diante dos quais somos apenas voyeurs que se deleitam, acabam em revolução e em azedume: é preciso percebê-lo.
O mais grave, porém, não é isso.
Se Shakespeare e seus imitadores nos insinuaram através dos tempos uma ideia da arte pela arte, com a arte de um lado e a vida do outro, podíamos ficar tranquilos com a ideia ineficaz e preguiçosa enquanto a vida lá fora se mantinha. Mas agora vemos muito bem os sinais indicadores de que o que nos mantinha vivos já não se mantém, de que estamos todos loucos, desesperados e doentes. E eu nos convido a reagir.
Esta ideia de arte desligada, de poesia-encantamento que só existe para encantar o lazer, é uma ideia de decadência e demonstra claramente nossa força de castração.
Nossa admiração literária por Rimbaud, Jarry, Lautréamont e alguns outros, que levou dois homens ao suicídio mas que para os outros se reduz a papinhos de bar, faz parte da ideia da poesia literária, da arte desligada, da atividade espiritual neutra, que nada faz e nada produz; e constato que foi no momento em que a poesia individual, que só compromete aquele que a faz e no momento em que a faz, grassava da maneira mais abusiva que o teatro foi mais desprezado por poetas que nunca tiveram o senso nem da ação direta e em massa, nem da eficácia, nem do perigo.
É preciso acabar com a superstição dos textos e da poesia escrita. A poesia escrita vale uma única vez e, depois, que seja destruída. Que os poetas mortos cedam lugar aos outros. E poderíamos mesmo assim ver que é nossa veneração diante do que já foi feito, por mais belo e válido que seja, que nos petrifica, que nos estabiliza e nos impede de tomar contato com a força que está por baixo, quer ela seja chamada energia pensante, força vital, determinismo das trocas, menstruação da lua ou o que bem se entender. Sob a poesia dos textos existe a poesia tout court, sem forma e sem texto. E, tal como se esgota a eficácia das máscaras que servem às operações de magia de certos povos – e então essas máscaras só servem para serem jogadas nos museus -, do mesmo modo se esgota a eficácia poética de um texto, e a poesia e a eficácia do teatro é a que se esgota mais lentamente, uma vez que admite a ação do que se gesticula e se pronuncia e que nunca se reproduz uma segunda vez.
Trata-se de saber o que queremos. Se estamos prontos para a guerra, a peste, a fome e o massacre, nem precisamos dizer nada, basta continuar. Continuar nos comportando como esnobes e a nos locomover em massa para ver este ou aquele cantor, este ou aquele espetáculo admirável e que não ultrapassa o domínio da arte (e os bales russos mesmo no momento de seu esplendor nunca ultrapassaram o domínio da arte), esta ou aquela exposição de pintura de cavalete em que explodem aqui e ali algumas formas impressionantes mas casuais e sem uma consciência verídica das forças que poderiam acionar.
É preciso parar com esse empirismo, esse acaso, esse individualismo e essa anarquia.
Basta de poemas individuais e que servem muito mais a quem os faz do que a quem os lê.
Basta, de uma vez por todas, de manifestações de arte fechada, egoísta e pessoal.
Nossa anarquia e nossa desordem espiritual são função da anarquia do resto – ou melhor, é o resto que é função dessa anarquia.
Não sou dos que acreditam que a civilização deva mudar para que o teatro mude; mas creio que o teatro utilizado num sentido superior e o mais difícil possível tem a força de influir sobre o aspecto e a formação das coisas: e a aproximação em cena de duas manifestações passionais, de dois núcleos vivos, de dois magnetismos nervosos é algo de tão integral, tão verdadeiro, tão determinante mesmo quanto, na vida, a aproximação entre duas epidermes num estupro sem amanhã.
É por isso que proponho um teatro da crueldade. Com esta mania de rebaixar tudo o que hoje pertence a nós todos, “crueldade”, quando pronunciei esta palavra, foi entendida por todo o mundo como sendo “sangue”. Mas “teatro da crueldade” quer dizer teatro difícil e cruel antes de mais nada para mim mesmo. E, no plano da representação, não se trata da crueldade que podemos exercer uns contra os outros despedaçando mutuamente nossos corpos, serrando nossas anatomias pessoais ou, como certos imperadores assírios, enviando-nos pelo correio sacos de orelhas humanas, de narizes ou narinas bem cortadas, mas trata-se da crueldade muito mais terrível e necessária que as coisas podem exercer contra nós. Não somos livres. E o céu ainda pode desabar sobre nossas cabeças. E o teatro é feito para, antes de mais nada, mostrar-nos isso.
Ou seremos capazes de retornar, através dos meios modernos e atuais, à ideia superior da poesia e da poesia pelo teatro que está por trás dos Mitos contados pelos grandes trágicos da antiguidade, e capazes mais uma vez de suportar uma ideia religiosa do teatro, isto é, sem mediação, sem contemplação inútil, sem sonhos esparsos, de chegar a uma tomada de consciência e também de posse de certas forças dominantes, de certas noções que tudo dirigem; e, como as noções, quando efetivas, trazem consigo suas energias, capazes de reencontrar em nós essas energias que afinal criam a ordem e fazem aumentar os índices da vida, ou só nos resta nos abandonarmos sem reação e imediatamente, e reconhecer que só servimos mesmo para a desordem, a fome, o sangue, a guerra e as epidemias.
Ou trazemos todas as artes de volta a uma atitude e a uma necessidade centrais, encontrando uma analogia entre um gesto feito na pintura ou no teatro e um gesto feito pela lava no desastre de um vulcão, ou devemos parar de pintar, de vociferar, de escrever e de fazer seja lá o que for.
No teatro, proponho a volta à ideia elementar mágica, retomada pela psicanálise moderna, que consiste, para conseguir a cura de um doente, em fazê-lo tomar a atitude exterior do estado ao qual o queremos conduzir.
Proponho a renúncia ao empirismo das imagens que o inconsciente carrega ao acaso e que também lançamos ao acaso chamando-as de imagens poéticas, portanto herméticas, como se essa espécie de transe que a poesia suscita não repercutisse em toda a sensibilidade, em todos os nervos, e como se a poesia fosse uma força vaga e que não varia seus movimentos.
Proponho a volta, através do teatro, a uma ideia do conhecimento físico das imagens e dos meios de provocar transes, assim como a medicina chinesa conhece, em toda a extensão da anatomia humana, os pontos que devem ser tocados e que regem até as funções mais sutis.
Para quem se esqueceu do poder comunicativo e do mimetismo mágico de um gesto, o teatro pode reensiná-lo, porque um gesto traz consigo sua força e porque de qualquer modo há no teatro seres humanos para manifestar a força do gesto feito.
Fazer arte é privar um gesto de sua repercussão no organismo, e essa repercussão, se o gesto é feito nas condições e com a força necessárias, convida o organismo e, através dele, toda a individualidade a tomar atitudes conformes ao gesto feito.
O teatro é o único lugar do mundo e o último meio de conjunto que nos resta para alcançar diretamente o organismo e, nos momentos de neurose e baixa sensualidade como este em que estamos mergulhados, para atacar essa baixa sensualidade através dos meios físicos aos quais ela não resistirá.
Se a música age sobre as serpentes, não é pelas noções espirituais que ela lhes traz, mas porque as serpentes
são compridas, porque se enrolam longamente sobre a terra, porque seu corpo toca a terra em sua quase totalidade; e as vibrações musicais que se comunicam à terra o atingem como uma sutil e demorada passagem; pois bem, proponho agir para com espectadores como para com as serpentes que se encantam e fazer com que retornem, através do organismo, até as noções mais sutis.
Primeiro através de meios grosseiros e que, com o tempo, tornam-se mais sutis. Esses meios grosseiros imediatos prenderão sua atenção de início.
É por isso que no “teatro da crueldade” o espectador fica no meio, enquanto o espetáculo o envolve.
Nesse espetáculo a sonorização é constante: os sons, os ruídos, os gritos são buscados primeiro por sua qualidade vibratória e, a seguir, pelo que representam.
Nesses meios que se sutilizam, a luz, por sua vez, intervém. A luz que não é feita apenas para colorir ou iluminar e que traz consigo sua força, sua influência, suas sugestões. E a luz de uma caverna verde não coloca o organismo nas mesmas disposições sensuais que a luz de um dia de ventania.
Depois do som e da luz vem a ação, e o dinamismo da ação: é aqui que o teatro, longe de copiar a vida, põe-se em comunicação, quando pode, com as forças puras. E, quer as aceitemos ou neguemos, há um modo de falar que chama de forças o que faz nascer no inconsciente imagens enérgicas e, no exterior, o crime gratuito.
Uma ação violenta e densa é uma similitude do lirismo: invoca imagens sobrenaturais, um sangue de imagens, e um jorro sangrento de imagens tanto na cabeça do poeta quanto na do espectador.
Sejam quais forem os conflitos que assombram a mente de uma época, desafio um espectador ao qual cenas violentas tenham passado seu sangue, que tenha sentido em si a passagem de uma ação superior, que tenha visto de relance em fatos extraordinários os movimentos extraordinários e essenciais de seu pensamento – a violência e o sangue colocados a serviço da violência do pensamento -, desafio esse espectador a entregar-se, exteriormente, às ideias de guerra, revolta e assassinato temerário.
Dita desta maneira, essa ideia parece apressada e pueril. E muitos dirão que exemplo chama exemplo, que a atitude da cura convida à cura e a do assassinato, ao assassinato. Tudo depende do modo e da pureza com que se fazem as coisas. Há um risco. Mas que ninguém esqueça que um gesto teatral é violento, porém desinteressado; e que o teatro ensina exatamente a inutilidade da ação que, uma vez feita, não está mais por ser feita, e a utilidade superior do estado inutilizado pela ação mas que, voltado, produz a sublimação.
Proponho assim um teatro em que imagens físicas violentas triturem e hipnotizem a sensibilidade do espectador, envolvida no teatro como num turbilhão de forças superiores.
Um teatro que, abandonando a psicologia, narre o extraordinário, ponha em cena conflitos naturais, forças naturais e sutis, e que se apresente antes de mais nada como uma excepcional força de derivação. Um teatro que produza transes, como as danças dos Derviches e Aissauas, e que se dirija ao organismo com meios precisos e com os mesmos meios que as músicas curativas de certos povos, que admiramos em discos mas que somos incapazes de fazer nascer entre nós.
Há um risco, mas acho que nas circunstâncias atuais vale a pena corrê-lo. Não creio que consigamos reavivar o estado de coisas em que vivemos e nem creio que valha a pena aferrar-se a isso; mas proponho alguma coisa para sair do marasmo, em vez de continuar a reclamar desse marasmo e do tédio, da inércia e da imbecilidade de tudo.
O TEATRO E A CRUELDADE
Perdeu-se uma ideia do teatro. E, na medida em que o teatro se limita a nos fazer penetrar na intimidade de alguns fantoches e em que transforma o público em voyeur, compreende-se que a elite se afaste dele e que o grosso da massa procure no cinema, no music-hall ou no circo satisfações violentas, cujo teor não a decepciona.
No ponto de desgaste a que chegou nossa sensibilidade, certamente precisamos antes de mais nada de um teatro que nos desperte: nervos e coração.
Os danos do teatro psicológico oriundo de Racine nos desacostumaram da ação violenta e imediata que o teatro deve ter. O cinema, por sua vez, que nos assassina com reflexos, que, filtrado pela máquina, não consegue mais alcançar nossa sensibilidade, mantém-nos há dez anos num entorpecimento ineficaz, no qual parecem soçobrar todas as nossas faculdades. No período angustiante e catastrófico em que vivemos, sentimos a necessidade urgente de um teatro que os acontecimentos não superem, cuja ressonância em nós seja profunda, domine a instabilidade dos tempos.
O longo hábito dos espetáculos de distração nos fez esquecer a ideia de um teatro grave que, abalando todas as nossas representações, insufle-nos o magnetismo ardente das imagens e acabe por agir sobre nós a exemplo de uma terapia da alma cuja passagem não se deixará mais esquecer.
Tudo o que age é uma crueldade. É a partir dessa ideia de ação levada ao extremo que o teatro deve se renovar.
Penetrado pela ideia de que a massa pensa primeiro com os sentidos, e que é absurdo, como no teatro psicológico comum, dirigir-se primeiro ao entendimento das pessoas, o Teatro da Crueldade propõe-se a recorrer ao espetáculo de massas; propõe-se a procurar na agitação de massas importantes, mas lançadas umas contra as outras e convulsionadas, um pouco da poesia que se encontra nas festas e nas multidões nos dias, hoje bem raros, em que o povo sai às ruas.
Tudo o que há no amor, no crime, na guerra ou na loucura nos deve ser devolvido pelo teatro, se ele pretende reencontrar sua necessidade.
O amor cotidiano, a ambição pessoal, as agitações diárias só têm valor enquanto reação a essa espécie de terrível lirismo que existe nos Mitos aos quais coletividades imensas aderiram.
É por isso que, em torno de personagens famosas, crimes atrozes, afetos sobre-humanos, tentaremos concentrar um espetáculo que, sem recorrer às imagens expiradas dos velhos Mitos, se revele capaz de extrair as forças que se agitam neles.
Em suma, acreditamos que há, no que se chama poesia, forças vivas, e que a imagem de um crime apresentada nas condições teatrais adequadas funciona para o espírito como algo infinitamente mais temível do que o próprio crime, realizado.
Queremos fazer do teatro uma realidade na qual se possa acreditar, e que contenha para o coração e os sentidos esta espécie de picada concreta que comporta toda sensação verdadeira. Assim como nossos sonhos agem sobre nós e a realidade age sobre nossos sonhos, pensamos que podemos identificar as imagens da poesia com um sonho, que será eficaz na medida em que será lançado com a violência necessária. E o público acreditará nos sonhos do teatro sob a condição de que ele os considere de fato como sonhos e não como um decalque da realidade; sob a condição de que eles lhe permitam liberar a liberdade mágica do sonho, que ele só pode reconhecer enquanto marcada pelo terror e pela crueldade.
Daí o apelo à crueldade e ao terror, mas num plano vasto, e cuja amplidão sonda nossa vitalidade integral, nos coloca diante de todas as nossas possibilidades. É para apanhar a sensibilidade do espectador por todos os lados que preconizamos um espetáculo giratório que, em vez de fazer da cena e da sala dois mundos fechados, sem comunicação possível, difunda seus lampejos visuais e sonoros sobre toda a massa dos espectadores.
Além disso, saindo do domínio dos sentimentos analisáveis e passionais, pensamos fazer com que o lirismo do ator sirva para manifestar forças externas – e com isso fazer a natureza voltar ao teatro, tal como queremos realizá-lo.
Por mais vasto que seja esse programa, ele não ultrapassa o próprio teatro, que nos parece identificar-se, em suma, com as forças da antiga magia.
Praticamente, queremos ressuscitar uma ideia do espetáculo total, em que o teatro saiba retomar ao cinema, ao espetáculo de variedades, ao circo e à própria vida aquilo que sempre lhe pertenceu. Esta separação entre o teatro de análise e o mundo plástico parece-nos uma estupidez. Não se separa o corpo do espírito, nem os sentidos da inteligência, sobretudo num domínio em que a fadiga incessantemente renovada dos órgãos precisa ser bruscamente sacudida para reanimar nosso entendimento.
Portanto, por um lado, a massa e a extensão de um espetáculo que se dirige a todo o organismo; por outro, uma mobilização intensiva de objetos, gestos, signos, utilizados dentro de um espírito novo. A participação reduzida do entendimento leva a uma compressão enérgica do texto; a participação ativa da emoção poética obscura obriga a signos concretos. As palavras pouco falam ao espírito; a extensão e os objetos falam; as imagens novas falam, mesmo que feitas com palavras. Mas o espaço atroador de imagens, repleto de sons, também fala, se soubermos de vez em quando arrumar extensões suficientes de espaço mobiliadas de silêncio e imobilidade.
A partir desse princípio, pensamos fazer um espetáculo em que esses meios de ação direta sejam utilizados em sua totalidade; portanto, um espetáculo que não receie ir tão longe quanto necessário na exploração de nossa sensibilidade nervosa, com ritmos, sons, palavras, ressonâncias e trinados, cuja qualidade e surpreendentes mesclas fazem parte de uma técnica que não deve ser divulgada.
Quanto ao resto e falando claramente, as imagens de certas pinturas de Grünewald ou de Hieronymus Bosch dizem bem o que pode ser um espetáculo em que, como no cérebro de um santo qualquer, as coisas da natureza exterior surgem como se fossem tentações.
É aí, nesse espetáculo de uma tentação em que a vida tem tudo a perder, e o espírito tudo a ganhar, que o teatro deve reencontrar seu verdadeiro significado.
Demos um programa, aliás, que deve permitir que certos meios de encenação pura, encontrados no próprio lugar do ato, organizem-se em torno de temas históricos ou cósmicos, conhecidos por todos.
E insistimos no fato de que o primeiro espetáculo do Teatro da Crueldade se fará sobre preocupações de massas, bem mais urgentes e inquietantes do que as de qualquer indivíduo.
Trata-se agora de saber se em Paris, antes dos cataclismos que se anunciam, será possível encontrar os meios financeiros e outros para essa realização, que permitam que um teatro como esse viva – e este se sustentará de qualquer modo, porque é o futuro. Ou se será preciso, de imediato, um pouco de sangue verdadeiro para que essa crueldade se manifeste.
Maio de 1933
O TEATRO DA CRUELDADE
(Primeiro Manifesto)
Não é possível continuar a prostituir a ideia de teatro, que só é válido se tiver uma ligação mágica, atroz, com a realidade e o perigo.
Assim colocada, a questão do teatro deve despertar a atenção geral, ficando subentendido que o teatro, por seu lado físico, e por exigir a expressão no espaço, de fato a única real, permite que os meios mágicos da arte e da palavra se exerçam organicamente e em sua totalidade como exorcismos renovados. De tudo isso conclui-se que não serão devolvidos ao teatro seus poderes específicos de ação antes de lhe ser devolvida sua linguagem.
Isso significa que, em vez de voltar a textos considerados como definitivos e sagrados, importa antes de tudo romper a sujeição do teatro ao texto e reencontrar a noção de uma espécie de linguagem única, a meio caminho entre o gesto e o pensamento.
Essa linguagem só pode ser definida pelas possibilidades da expressão dinâmica e no espaço, em oposição às possibilidades da expressão pela palavra dialogada. E aquilo que o teatro ainda pode extrair da palavra são suas possibilidades de expansão fora das palavras, de desenvolvimento no espaço, de ação dissociadora e vibratória sobre a sensibilidade. É aqui que intervém as entonações, a pronúncia particular de uma palavra. É aqui que intervém, fora da linguagem auditiva dos sons, a linguagem visual dos objetos, movimentos, atitudes, gestos, mas com a condição de que se prolonguem seu sentido, sua fisionomia, sua reunião até chegar aos signos, fazendo desses signos uma espécie de alfabeto. Tendo tomado consciência dessa linguagem no espaço, linguagem de sons, de gritos, de luzes, de onomatopeias, o teatro deve organizá-la, fazendo com as personagens e os objetos verdadeiros hieróglifos, servindo-se do simbolismo deles e de suas correspondências com relação a todos os órgãos e em todos os planos.
Trata-se portanto, para o teatro, de criar uma metafísica da palavra, do gesto, da expressão, com vistas a tirá-lo de sua estagnação psicológica e humana. Mas nada disso adiantará se não houver por trás desse esforço uma espécie de tentação metafísica real, um apelo a certas ideias incomuns, cujo destino é exatamente o de não poderem ser limitadas, nem mesmo formalmente esboçadas. Essas ideias, que se referem à Criação, ao Devir, ao Caos, e que são todas de ordem cósmica, fornecem uma primeira noção de um domínio do qual o teatro se desacostumou totalmente. Elas podem criar uma espécie de equação apaixonante entre o Homem, a Sociedade, a Natureza e os Objetos.
A questão não é fazer aparecer em cena, diretamente, ideias metafísicas, mas criar espécies de tentações, de atmosferas propícias em torno dessas ideias. E o humor com sua anarquia, a poesia com seu simbolismo e suas imagens fornecem como que uma primeira noção dos meios para canalizar a tentação dessas ideias.
É preciso falar agora do lado unicamente material dessa linguagem. Isto é, de todas as maneiras e de todos os meios que ela tem para agir sobre a sensibilidade.
Seria inútil dizer que essa linguagem apela para a música, a dança, a pantomima ou a mímica. É evidente que ela utiliza movimentos, harmonias, ritmos, mas apenas enquanto podem contribuir para uma espécie de expressão central, sem proveito para uma arte particular. O que também não significa que essa linguagem não se serve de fatos comuns, paixões comuns, mas apenas como de um trampolim, assim como o HUMOR-DESTRUIÇÃO, através do riso, pode servir para conciliá-la com os hábitos da razão.
Mas com um sentido totalmente oriental da expressão, essa linguagem objetiva e concreta do teatro serve para cercar, encerrar órgãos. Ela circula na sensibilidade. Abandonando as utilizações ocidentais da palavra, ela faz das palavras encantações. Ela impele a voz. Utiliza vibrações e qualidades de voz. Faz ritmos baterem loucamente. Martela sons. Visa exaltar, exacerbar, encantar, deter a sensibilidade. Destaca o sentido de um novo lirismo do gesto, que, por sua precipitação ou sua amplitude no ar, acaba por superar o lirismo das palavras. Rompe enfim a sujeição intelectual à linguagem, dando o sentido de uma intelectualidade nova e mais profunda, que se oculta sob os gestos e sob os signos elevados à dignidade de exorcismos particulares.
Todo esse magnetismo e toda essa poesia e esses meios de encantamentos diretos nada seriam se não colocassem o espírito fisicamente no caminho de alguma coisa, se o verdadeiro teatro não pudesse nos dar o sentido de uma criação da qual possuímos apenas uma face e cuja realização completa está em outros planos.
E pouco importa que esses outros planos sejam realmente conquistados pelo espírito, isto é, pela inteligência; isso é diminuí-los e não interessa, não tem sentido. Importa é que, através de meios seguros, a sensibilidade seja colocada num estado de percepção mais aprofundada e mais apurada, é esse o objetivo da magia e dos ritos, dos quais o teatro é apenas um reflexo.
TÉCNICA
Trata-se portanto de fazer do teatro, no sentido próprio da palavra, uma função; algo tão localizado e preciso quanto a circulação do sangue nas artérias, ou o desenvolvimento, aparentemente caótico, das imagens do sonho no cérebro, e isso através de um encadeamento eficaz, uma verdadeira escravização da atenção.
O teatro só poderá voltar a ser ele mesmo, isto é, voltar a constituir um meio de ilusão verdadeira, se fornecer ao espectador verdadeiros precipitados de sonhos, em que seu gosto pelo crime, suas obsessões eróticas, sua selvageria, suas quimeras, seu sentido utópico da vida e das coisas, seu canibalismo mesmo se expandam, num plano não suposto e ilusório, mas interior.
Em outras palavras, o teatro deve procurar, por todos os meios, recolocar em questão não apenas todos os aspectos do mundo objetivo e descritivo externo, mas também do mundo interno, ou seja, do homem, considerado metafisicamente. Só assim, acreditamos, poderemos voltar a falar, no teatro, dos direitos da imaginação. Nem o Humor nem a Poesia nem a Imaginação significam qualquer coisa se, por uma destruição anárquica, produtora de uma prodigiosa profusão de formas que serão todo o espetáculo, não conseguem questionar organicamente o homem, suas ideias sobre a realidade e seu lugar poético na realidade.
Mas considerar o teatro como uma função psicológica ou moral de segunda mão e acreditar que os próprios sonhos não passam de uma função de substituição é diminuir o alcance poético profundo tanto dos sonhos quanto do teatro. Se o teatro, assim como os sonhos, é sanguinário e desumano, é, muito mais do que isso, por manifestar e ancorar de modo inesquecível em nós a ideia de um conflito eterno e de um espasmo em que a vida é cortada a cada minuto, em que tudo na criação se levanta e se exerce contra nosso estado de seres constituídos, é por perpetuar de um modo concreto e atual as ideias metafísicas de algumas Fábulas cuja própria atrocidade e energia bastam para desmontar a origem e o teor em princípios essenciais.
Sendo assim, vê-se que, por sua proximidade dos princípios que lhe transferem poeticamente sua energia, essa linguagem nua do teatro, linguagem não virtual mas real, deve permitir, pela utilização do magnetismo nervoso do homem, a transgressão dos limites comuns da arte e da palavra para realizar ativamente, ou seja, magicamente, em termos verdadeiros, uma espécie de criação total, em que não reste ao homem senão retomar seu lugar entre os sonhos e os acontecimentos.
OS TEMAS
Não se trata de assassinar o público com preocupações cósmicas transcendentes. O fato de existirem chaves profundas do pensamento e da ação para se ler todo o espetáculo não diz respeito ao espectador em geral, que não se interessa por isso. Mas de todo modo é preciso que essas chaves existam e isso nos diz respeito.
O ESPETÁCULO:
Todo espetáculo conterá um elemento físico e objetivo, sensível a todos. Gritos, lamentações, aparições, surpresas, golpes teatrais de todo tipo, beleza mágica das roupas feitas segundo certos modelos rituais, deslumbramento da luz, beleza encantatória das vozes, encanto da harmonia, raras notas musicais, cor dos objetos, ritmo físico dos movimentos cujo crescendo e decrescendo acompanharão a pulsação de movimentos familiares a todos, aparições concretas de objetos novos e surpreendentes, máscaras, bonecos de vários metros, mudanças bruscas da luz, ação física da luz que desperta o calor e o frio, etc.
A ENCENAÇÃO:
É em torno da encenação, considerada não como o simples grau de refração de um texto sobre a cena, mas como o ponto de partida de toda criação teatral, que será constituída a linguagem-tipo do teatro. E é na utilização e no manejo dessa linguagem que se dissolverá a velha dualidade entre autor e diretor, substituídos por uma espécie de Criador único a quem caberá a dupla responsabilidade pelo espetáculo e pela ação.
A LINGUAGEM DA CENA:
Não se trata de suprimir o discurso articulado, mas de dar às palavras mais ou menos a importância que elas têm nos sonhos.
Quanto ao resto, é preciso encontrar novos meios de anotar essa linguagem, quer esses meios sejam aparentados com os da transcrição musical, quer se faça uso de uma espécie de linguagem cifrada.
No que diz respeito aos objetos comuns, ou mesmo ao corpo humano, elevados à dignidade de signos, é evidente que se pode buscar inspiração nos caracteres hieroglíficos, não apenas para anotar esses signos de uma maneira legível e que permita sua reprodução conforme a vontade, mas também para compor em cena símbolos precisos e legíveis diretamente.
Por outro lado, essa linguagem cifrada e essa transcrição musical serão preciosas como meio de transcrever as vozes.
Uma vez que faz parte da base dessa linguagem uma utilização particular das entonações, essas entonações devem constituir uma espécie de equilíbrio harmônico, de deformação secundária da palavra, que deve poder ser reproduzida à vontade.
Do mesmo modo, as dez mil e uma expressões do rosto consideradas em estado de máscaras poderão ser rotuladas e catalogadas, com o objetivo de participarem diretamente e simbolicamente dessa linguagem concreta da cena; e isto além de sua utilização psicológica particular.
Além disso, os gestos simbólicos, as máscaras, as atitudes, os movimentos particulares ou de conjunto, cujas inúmeras significações constituem uma parte importante da linguagem concreta do teatro, gestos evocadores, atitudes emotivas ou arbitrárias, marcação desvairada de ritmos e sons se duplicarão, serão multiplicados por espécies de gestos e atitudes reflexos, constituídos pelo acúmulo de todos os gestos impulsivos, de todas as atitudes falhas, de todos os lapsos do espírito e da língua através dos quais se manifesta aquilo que se poderia chamar de impotências da palavra, e existe nisso uma prodigiosa riqueza de expressão, à qual não deixaremos de recorrer ocasionalmente. Além disso, existe uma ideia concreta da música em que os sons intervém como personagens, em que harmonias são cortadas ao meio e se perdem nas intervenções precisas das palavras.
Entre um e outro meio de expressão criam-se correspondências e níveis; e até mesmo a luz poderá ter um sentido intelectual determinado.
OS INSTRUMENTOS MUSICAIS:
Serão usados em sua condição de objetos e como se fizessem parte do cenário.
Além disso, a necessidade de agir diretamente e profundamente sobre a sensibilidade pelos órgãos convida, do ponto de vista sonoro, a que se procurem qualidades e vibrações de sons absolutamente incomuns, qualidades que os instrumentos musicais atuais não possuem, e que levam ao uso de instrumentos antigos e esquecidos, ou a criar novos instrumentos. Elas também levam a que se procurem, além da música, instrumentos e aparelhos que, baseados em fusões especiais ou em novas combinações de metais, possam atingir um novo diapasão da oitava, produzir sons ou ruídos insuportáveis, lancinantes.
A LUZ – AS ILUMINAÇÕES:
Os aparelhos luminosos atualmente em uso nos teatros já não podem ser suficientes. Entrando em jogo a ação particular da luz sobre o espírito, devem-se buscar efeitos de vibração luminosa, novos modos de difundir a iluminação em ondas, ou por camadas, ou como uma fuzilaria de flechas incendiárias. A gama colorida dos aparelhos atualmente em uso deve ser revista de ponta a ponta. Afim de produzir qualidades de tons particulares, deve-se reintroduzir na luz um elemento de sutileza, densidade, opacidade, com o objetivo de produzir calor, frio, raiva, medo, etc.
A ROUPA:
Com respeito à roupa, e sem pensar que possa haver uma roupa uniforme para o teatro, a mesma para todas as peças, deve-se procurar evitar o mais possível a roupa moderna, não por um gosto fetichista e supersticioso pelo antigo, mas porque surge como absolutamente evidente que certas roupas milenares, de uso ritual, mesmo tendo sido de época num certo momento, conservam uma beleza e uma aparência reveladoras, em virtude da proximidade que mantêm com as tradições que lhes deram origem.
A CENA – A SALA:
Suprimimos o palco e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem divisões nem barreiras de qualquer tipo, e que se tornará o próprio teatro da ação. Será restabelecida uma comunicação direta entre o espectador e o espetáculo, entre ator e espectador, pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e marcado por ela. Esse envolvimento provém da própria configuração da sala.
Assim, abandonando as salas de teatro existentes, usaremos um galpão ou um celeiro qualquer, que reconstruiremos segundo os procedimentos que resultaram na arquitetura de certas igrejas e certos lugares sagrados, de certos templos do Alto Tibete.
No interior dessa construção reinarão proporções particulares em altura e profundidade. A sala será fechada por quatro paredes, sem qualquer espécie de ornamento, e o público ficará sentado no meio da sala, na parte de baixo, em cadeiras móveis que lhe permitirão seguir o espetáculo que se desenvolverá à sua volta. Com efeito, a ausência de palco, no sentido comum da palavra, convidará a ação a desenvolver-se nos quatro cantos da sala. Lugares especiais serão reservados para os atores e para a ação, nos quatro pontos cardeais da sala. As cenas serão representadas diante de fundos de paredes pintadas a cal e destinadas a absorver a luz. Além disso, no alto, correrão galerias por toda a sala, como em certos quadros de Primitivos. Essas galerias permitirão aos atores, toda vez que a ação exigir, caminhar de um ponto a outro da sala, e também que a ação se desenrole em todos os níveis e em todos os sentidos da perspectiva em altura e profundidade. Um grito emitido num canto poderá se transmitir de boca em boca com amplificações e modulações sucessivas até o outro canto da sala. A ação romperá seu círculo, estenderá sua trajetória de nível em nível, de um ponto a outro, paroxismos nascerão de repente, acendendo-se como incêndios em pontos diferentes; e o caráter de ilusão verdadeira do espetáculo, assim como a influência direta e imediata da ação sobre o espectador, não serão palavras vazias. E que esta difusão da ação por um espaço imenso obrigará a iluminação de uma cena e as iluminações diversas de uma representação que deve abranger tanto o público quanto as personagens — e a várias ações simultâneas, a várias fases de uma ação idêntica em que as personagens agarradas umas às outras como num enxame suportarão todos os assaltos das situações, e os assaltos exteriores dos elementos e da tempestade, corresponderão meios físicos de iluminação, de trovão ou vento, cujo contragolpe o espectador sentirá.
No entanto, será reservado um lugar central que, sem servir propriamente de palco, deverá permitir que o todo da ação se reúna e se organize sempre que necessário.
OS OBJETOS – AS MÁSCARAS – OS ACESSÓRIOS:
Bonecos, máscaras enormes, objetos de proporções singulares aparecerão na mesma condição das imagens verbais, insistirão no lado concreto de toda imagem e de toda expressão – com a contrapartida de que as coisas que geralmente exigem uma figuração objetiva serão escamoteadas ou dissimuladas.
O CENÁRIO:
Não haverá cenário. Para essa função bastarão personagens-hieróglifos, roupas rituais, bonecos de dez metros de altura representando a barba do Rei Lear na tempestade, instrumentos musicais da altura de um homem, objetos com formas e destinação desconhecidas.
A ATUALIDADE:
Mas, muitos dirão, um teatro tão longe da vida, dos fatos, das preocupações atuais… Da atualidade e dos acontecimentos, sim! Das preocupações, no que têm de profundo e que é o apanágio de alguns, não! No Zohar, a história de Rabi-Simeão, que arde como fogo, é atual como o fogo.
AS OBRAS:
Não representaremos peças escritas mas, em torno de temas, fatos ou obras comuns, tentaremos uma encenação direta. A própria natureza e disposição da sala exigem o espetáculo e não há tema, por mais amplo que seja, que nos seja interdito.
ESPETÁCULO:
Há uma ideia do espetáculo integral que devemos fazer renascer. O problema é fazer o espaço falar, alimentá-lo e mobiliá-lo; como minas introduzidas numa muralha de rochas planas que de repente fizessem nascer gêiseres e ramos de flores.
O ATOR:
O ator é ao mesmo tempo um elemento de primeira importância, pois é da eficácia de sua interpretação que depende o sucesso do espetáculo, e uma espécie de elemento passivo e neutro, pois toda iniciativa pessoal lhe é rigorosamente recusada. Este é, aliás, um domínio em que não há regras precisas; e, entre o ator a quem se pede uma simples qualidade de soluço e aquele que deve pronunciar um discurso com suas qualidades de persuasão pessoais, há toda a distância que separa um homem de um instrumento.
A INTERPRETAÇÃO:
O espetáculo será cifrado do começo ao fim, como uma linguagem. Com isso não haverá movimentos perdidos, todos os movimentos obedecerão a um ritmo; e, cada personagem sendo tipificada ao extremo, sua gesticulação, sua fisionomia, suas roupas surgirão como outros tantos traços de luz.
O CINEMA:
A visualização grosseira daquilo que existe, o teatro, através da poesia, opõe as imagens daquilo que não existe. Aliás, do ponto de vista da ação não se pode comparar uma imagem de cinema que, por mais poética que seja, é limitada pela película, com uma imagem de teatro que obedece a todas as exigências da vida.
A CRUELDADE:
Sem um elemento de crueldade na base de todo espetáculo, o teatro não é possível. No estado de degenerescência em que nos encontramos, é através da pele que faremos a metafísica entrar nos espíritos.
O PUBLICO:
Primeiro, é preciso que haja esse teatro.
O PROGRAMA:
Encenaremos, sem levar o texto em consideração:
1) Uma adaptação de uma obra da época de Shakespeare, totalmente adaptada ao atual estado de perturbação espiritual, quer se trate de uma peça apócrifa de Shakespeare, como Arden of Feversham, ou de qualquer outra peça da mesma época.
2) Uma peça de extrema liberdade poética de Léon-Paul Fargue.
3) Algo do Zohar: A história de Rabi-Simeão, que tem a força e a violência sempre presentes de um incêndio.
4) A história de Barba Azul reconstituída segundo os arquivos e com uma nova ideia do erotismo e da crueldade.
5) A Tomada de Jerusalém, segundo a Bíblia e a História;com a cor vermelho-sangue que daí decorre e com o sentimento de abandono e pânico dos espíritos visível até na luz; e, por outro lado, com as disputas metafísicas dos profetas, com a incrível agitação intelectual que elas criam e cujo contragolpe recai fisicamente sobre o Rei, o Templo, o Populacho e os Acontecimentos.
6) Um conto do marquês de Sade, em que o erotismo será transposto, alegoricamente figurado e vestido, no sentido de uma exteriorização violenta da crueldade, e de uma dissimulação do resto.
7) Um ou vários melodramas românticos em que a inverossimilhança se tornará um elemento ativo e concreto de poesia.
8) O Woyzeck de Buchner, por espírito de reação contra nossos princípios, e a título de exemplo do que se pode extrair cenicamente de um texto preciso.
9) Obras do teatro elisabetano despojadas de seus textos e das quais só serão mantidos os atavios de época, as situações, as personagens e a ação.
CARTAS SOBRE A CRUELDADE
Paris, 13 de setembro de 1932
AJ.P.
Caro amigo,
Não lhe posso dar sobre meu Manifesto esclarecimentos que correriam o risco de deflorar sua ênfase. Tudo o que posso fazer é comentar provisoriamente o título Teatro da Crueldade e tentar justificar sua escolha.
Não se trata, nessa Crueldade, nem de sadismo, nem de sangue, pelo menos de modo exclusivo.
Não cultivo sistematicamente o horror. A palavra crueldade deve ser considerada num sentido amplo e não no sentido material e rapace que geralmente lhe é atribuído. E com isso reivindico o direito de romper o sentido usual da linguagem, de romper de vez a armadura, arrebentar a golilha, voltar enfim às origens etimológicas da língua que, através dos conceitos abstratos, evocam sempre uma noção concreta.
Pode-se muito bem imaginar uma crueldade pura, sem dilaceramento carnal. E, aliás, filosoficamente falando, o que é a crueldade? Do ponto de vista do espírito, a crueldade significa rigor, aplicação e decisão implacáveis, determinação irreversível, absoluta.
O determinismo filosófico mais comum é, do ponto de vista de nossa existência, uma das imagens da crueldade.
Atribui-se erroneamente à palavra crueldade um sentido de rigor sangrento, de busca gratuita e desinteressada do mal físico. O Rás etíope que arrasta os príncipes vencidos e lhes impõe a escravidão não o faz por um amor desesperado ao sangue. De fato, crueldade não é sinônimo de sangue derramado, de carne martirizada, de inimigo crucificado. Essa identificação da crueldade com os suplícios é um aspecto muito pequeno da questão. Na crueldade que se exerce há uma espécie de determinismo superior ao qual está submetido o próprio carrasco supliciador, e o qual, se for o caso, deve estar determinado a suportar. A crueldade é antes de mais nada lúcida, é uma espécie de direção rígida, submissão à necessidade. Não há crueldade sem consciência, sem uma espécie de consciência aplicada. É a consciência que dá ao exercício de todo ato da vida sua cor de sangue, sua nuance cruel, pois está claro que a vida é sempre a morte de alguém.
Paris, 14 de novembro de 1932
A IP
Caro amigo,
A crueldade não foi acrescentada a meu pensamento, ela sempre viveu nele; mas eu precisava tomar consciência dela. Uso a palavra crueldade no sentido de apetite de vida, de rigor cósmico e de necessidade implacável, no sentido gnóstico de turbilhão de vida que devora as trevas, no sentido da dor fora de cuja necessidade inelutável a vida não consegue se manter; o bem é desejado, é o resultado de um ato, o mal é permanente. Quando cria, o deus oculto obedece à necessidade cruel da criação que lhe é imposta a ele mesmo, e não pode deixar de criar, portanto não pode deixar de admitir no centro do turbilhão voluntário do bem um núcleo de mal cada vez mais reduzido, cada vez mais corroído. E o teatro, no sentido de criação contínua, de ação mágica inteira, obedece a essa necessidade. Uma peça em que não houvesse essa vontade, esse apetite de vida cego, capaz de passar por cima de tudo, visível em cada gesto e em cada ato, e do lado transcendente da ação, seria uma peça inútil e fracassada.
Paris, 16 de novembro de 1932
A M.R. de R.
Caro amigo,
Confesso que não compreendo nem admito as objeções que foram feitas contra meu título. Parece-me que a criação e a própria vida só se definem por uma espécie de rigor, portanto de crueldade básica que leva as coisas ao seu fim inelutável, seja a que preço for.
O esforço é uma crueldade, a existência pelo esforço é uma crueldade. Saindo de seu repouso e se distendendo até o ser, Brahma sofre, talvez de um sofrimento que fornece harmônicos de alegria mas que, na última extremidade da curva, só se expressa por uma terrível trituração.
No fogo de vida, no apetite de vida, no impulso irracional para a vida há uma espécie de maldade inicial: o desejo de Eros é uma crueldade, pois passa por cima das contingências; a morte é crueldade, a ressurreição é crueldade, a transfiguração é crueldade, pois em todos os sentidos e num mundo circular e fechado não há lugar para a verdadeira morte, pois uma ascensão é um dilaceramento, pois o espaço fechado é alimentado de vidas e cada vida mais forte passa através das outras, portanto as devora num massacre que é uma transfiguração e um bem. No mundo manifesto, e metafisicamente falando, o mal é a lei permanente, e o que é bem é um esforço e já uma crueldade acrescida a outra.
Não compreender isso é não compreender as ideias metafísicas. E não me venham dizer depois que meu título é limitado. É com crueldade que se coagulam as coisas, que se formam os planos do criado. O bem está sempre na face externa, mas a face interna é um mal. Mal que será reduzido com o tempo, mas no instante supremo em que tudo o que existiu estiver prestes a retornar ao caos.
CARTAS SOBRE A LINGUAGEM
Paris, 15 de setembro de 1931
AM.B.C.
Senhor,
O senhor afirma num artigo sobre a encenação e o teatro “que ao se considerar a encenação como uma arte autônoma corre-se o risco de cometer os piores erros”,
e que:
“a apresentação, o lado espetacular de uma obra dramática não devem agir isoladamente e determinar-se de modo totalmente independente”.
E diz ainda que essas são verdades primordiais.
O senhor tem mil vezes razão quando considera a encenação apenas como uma arte menor e subordinada, à qual aqueles mesmos que a utilizam com o máximo de independência negam qualquer originalidade básica. Enquanto a encenação continuar sendo, mesmo no espírito dos diretores mais livres, um simples meio de apresentação, um modo acessório de revelar obras, uma espécie de intervalo espetacular sem significado próprio, ela só terá valor na medida em que conseguir se dissimular por trás das obras a que pretende servir. E isso durará enquanto o interesse maior de uma obra representada residir em seu texto, enquanto no teatro, arte de representação, a literatura estiver acima da representação impropriamente chamada de espetáculo, com tudo o que essa denominação tem de pejorativo, de acessório, de efêmero e de exterior.
Isto, ao que me parece, é uma verdade primordial, mais do que qualquer outra coisa: o teatro, arte independente e autônoma, para ressuscitar ou simplesmente para viver, deve marcar bem o que o distingue do texto, da palavra pura, da literatura e de todos os outros meios escritos e fixos.
Pode-se muito bem continuar a conceber um teatro baseado na preponderância do texto, e de um texto cada vez mais verbal, difuso e entediante, ao qual a estética da cena se submeteria.
Mas essa concepção, que consiste em fazer personagens se sentarem numa certa quantidade de cadeiras ou poltronas enfileiradas e contarem-se mutuamente algumas histórias, por mais maravilhosas que sejam, talvez não seja a negação absoluta do teatro, que de modo algum precisa do movimento para ser o que deve ser, mas seria a sua subversão.
O fato de o teatro ter-se tornado algo essencialmente psicológico, alquimia intelectual de sentimentos, e de que o máximo da arte em matéria dramática tenha acabado por consistir num certo ideal de silêncio e imobilidade, nada mais é do que a perversão, em cena, da ideia de concentração.
Mas essa concentração do jogo utilizada entre tantos meios de expressão, pelos japoneses, por exemplo, vale apenas como um meio entre outros. E fazer disso um objetivo em cena é abster-se de utilizar a cena, como alguém que dispusesse das pirâmides para nelas alojar o cadáver de um faraó e que, sob o pretexto de que o cadáver do faraó cabe num nicho, se contentasse com o nicho, arrebentando as pirâmides.
Ele estaria arrebentando ao mesmo tempo todo o sistema filosófico e mágico do qual o nicho é apenas o ponto de partida e o cadáver, a condição.
Por outro lado, o diretor que cuida do cenário em detrimento do texto está errado, menos errado talvez do que o crítico que incrimina sua preocupação exclusiva com a encenação.
É que, cuidando da encenação, que numa peça de teatro é a parte verdadeira e especificamente teatral do espetáculo, o diretor permanece na linha verdadeira do teatro, que é a realização. Mas uns e outros estão jogando com palavras; pois, se o termo encenação acabou assumindo com o uso um sentido depreciativo, isso se deve à nossa concepção europeia do teatro que coloca a linguagem articulada à frente de todos os outros meios de representação.
Não está provado, de modo algum, que a linguagem das palavras é a melhor possível. E parece que na cena, que é antes de mais nada um espaço a ser ocupado e um lugar onde alguma coisa acontece, a linguagem das palavras deve dar lugar à linguagem por signos, cujo aspecto objetivo é o que mais nos atinge de imediato.
Considerado sob esse ângulo, o trabalho objetivo da encenação reassume uma espécie de dignidade intelectual através do desvanecimento das palavras por trás dos gestos e pelo fato de a parte plástica e estética do teatro abandonar seu caráter de interlúdio decorativo para tornar-se, no sentido próprio da palavra, uma linguagem diretamente comunicativa.
Em outras palavras, se é verdade que numa peça feita para ser falada o diretor não deve se perder em efeitos de cenários mais ou menos sabiamente iluminados, em jogos de grupos, em movimentos furtivos, todos efeitos epidérmicos por assim dizer e que só sobrecarregam o texto, fazendo isso ele está muito mais perto da realidade concreta do teatro do que o autor que poderia restringir-se ao livro, sem recorrer à cena cujas necessidades espaciais parecem escapar-lhe.
Pode-se objetar lembrando o alto valor dramático de todos os grandes trágicos nos quais é o lado literário, ou em todo caso o lado falado, que parece dominar. A isso responderei que, se hoje nos mostramos tão incapazes de dar de Esquilo, Sófocles, Shakespeare uma ideia digna deles, é porque, ao que parece, perdemos o sentido da física de seu teatro. É porque o aspecto diretamente humano e atuante de uma dicção, de uma gesticulação, de todo um ritmo cênico, nos escapa. Aspecto esse que deveria ter tanto ou mais importância do que a admirável dissecação falada da psicologia de seus heróis.
É através desse aspecto, através dessa gesticulação precisa que se modifica com as épocas e que atualiza os sentimentos, que se pode reencontrar a profunda humanidade de seu teatro.
Mas, mesmo que fosse assim e que essa física existisse realmente, eu ainda afirmaria que nenhum desses grandes trágicos é o próprio teatro, que é uma questão de materialização cênica e que vive apenas de materialização. Digam, se quiserem, que o teatro é uma arte inferior – o que deve ser demonstrado! -, mas o teatro reside num certo modo de mobiliar e animar a atmosfera da cena, por uma conflagração, num determinado ponto, de sentimentos, de sensações humanas, criadores de situações suspensas mas expressas em gestos concretos.
E, mais do que isso, esses gestos concretos devem ser de uma eficácia bastante grande para levar ao esquecimento até da necessidade da linguagem falada. Se a linguagem falada existe, ela deve ser apenas um meio de retomada, uma parada do espaço agitado; e o cimento dos gestos deve, através de sua eficácia humana, atingir o valor de verdadeira abstração.
Em suma, o teatro deve tornar-se uma espécie de demonstração experimental da identidade profunda entre o concreto e o abstrato.
É que ao lado da cultura pelas palavras há a cultura pelos gestos. Há no mundo outras linguagens além de nossa linguagem ocidental que optou pelo despojamento, pela secura das ideias e na qual as ideias nos são apresentadas em estado inerte, sem comover, de passagem, todo um sistema de analogias naturais como nas linguagens orientais.
É justo que o teatro continue sendo o lugar de passagem mais eficaz e mais ativo das imensas comoções analógicas em que se detêm as ideias em pleno voo e num ponto qualquer de sua transmutação no abstrato.
Não pode haver teatro completo que não leve em conta essas transformações cartilaginosas de ideias; que, a sentimentos conhecidos e já prontos, não acrescente a expressão de estados de espírito pertencentes ao domínio da semiconsciência, e que as sugestões dos gestos expressarão sempre com mais felicidade do que as determinações precisas e localizadas das palavras.
Parece enfim que a mais elevada ideia de teatro é a que nos reconcilia filosoficamente com o Devir, que nos sugere através de todos os tipos de situações objetivas a ideia furtiva da passagem e da transmutação das ideias em coisas, muito mais que a da transformação e do choque dos sentimentos nas palavras.
Parece ainda, e é de uma vontade assim que surgiu o teatro, que ele só deve fazer o homem e seus apetites intervirem na medida e sob o ângulo em que magneticamente ele se encontra com seu destino. Não para submeter-se a esse destino, mas para enfrentá-lo.
Paris, 28 de setembro de 1932
A IP
Caro amigo,
Não creio que, tendo lido meu Manifesto, você possa perseverar em sua objeção, a não ser que não o tenha lido ou o tenha lido mal. Meus espetáculos não terão nada a ver com as improvisações de Copeau. Por mais que mergulhem no concreto, no exterior, que tomem pé na natureza aberta e não nas câmaras fechadas do cérebro, nem por isso se entregarão ao capricho da inspiração inculta e irrefletida do ator; sobretudo do ator moderno que, fora do texto, mergulha e não sabe mais nada. Não entregarei a esse acaso a sorte de meus espetáculos e do teatro. Não.
Eis o que na verdade acontecerá. Trata-se de nada menos do que mudar o ponto de partida da criação artística e de subverter as leis habituais do teatro. Trata-se de substituir a linguagem articulada por uma linguagem de natureza diferente, cujas possibilidades expressivas equivalerão à linguagem das palavras, mas cuja fonte será buscada num ponto mais recôndito e mais recuado do pensamento.
A gramática dessa nova linguagem ainda está por ser encontrada. O gesto é sua matéria e sua cabeça; e, se quiserem, seu alfa e seu ômega. Ele parte da NECESSIDADE da palavra mais do que da palavra já formada. Mas, encontrando na palavra um beco sem saída, ele volta ao gesto de modo espontâneo. De passagem ele roça algumas das leis da expressão material humana. Mergulha na necessidade. Refaz poeticamente o trajeto que levou à criação da linguagem. Mas com uma consciência multiplicada dos mundos revolvidos pela linguagem da palavra e que ele faz reviver em todos os seus aspectos. Ele traz novamente à luz as relações incluídas e fixadas nas estratificações da sílaba humana e que esta, ao se fechar sobre elas, matou. Todas as operações pelas quais a palavra passou a fim de significar o Acendedor de incêndios de que o Fogo Pai nos protege como que com um escudo e que se torna aqui, sob a forma de Júpiter, a contração latina do Zeus-Pater grego, todas essas operações através de gritos, onomatopeias, sinais, atitudes e modulações nervosas, lentas, abundantes e apaixonadas, plano a plano, termo a termo, ele as refaz. Tenho por princípio que as palavras não pretendem dizer tudo e que por natureza e por causa de seu caráter determinado, fixado de uma vez para sempre, elas detêm e paralisam o pensamento em vez de permitir e favorecer seu desenvolvimento. E por desenvolvimento entendo verdadeiras qualidades concretas, extensas, estando nós num mundo concreto e extenso. Esta linguagem visa, portanto, encerrar e utilizar a extensão, isto é, o espaço, e, utilizando-o, fazê-lo falar; pego os objetos, as coisas da extensão como as imagens, as palavras, que reúno e faço responderem-se uma à outra segundo as leis do simbolismo e das analogias vivas. Leis eternas que são as de toda poesia e de toda linguagem viável; e, entre outras coisas, as dos ideogramas da China e dos velhos hieróglifos egípcios. Portanto, longe de restringir as possibilidades do teatro e da linguagem, sob o pretexto de que não encenarei peças escritas, amplio a linguagem da cena, multiplico suas possibilidades.
Acrescento à linguagem falada uma outra linguagem e tento tornar mágica sua antiga eficácia, sua eficácia sedutora, integrante da linguagem da palavra cujas misteriosas possibilidades esquecemos. Quando digo que não encenarei peças escritas, quero dizer que não encenarei peças baseadas na escrita e na palavra, que haverá nos espetáculos que montarei uma parte física preponderante, que não poderia ser fixada e escrita na linguagem habitual das palavras; e que mesmo a parte falada e escrita o será num sentido novo.
O teatro, ao contrário do que se pratica aqui – ou seja, na Europa, ou melhor, no Ocidente -, não se baseará mais no diálogo, e o próprio diálogo, o pouco que sobrar dele, não será redigido, fixado a priori, mas em cena; será feito em cena, criado em cena, em correlação com a outra linguagem – e com as necessidades -, das atitudes, dos signos, dos movimentos e dos objetos. Mas todas essas tentativas produzindo-se sobre a matéria, onde a Palavra surgirá como uma necessidade, como o resultado de uma série de compressões, choques, atritos cênicos, evoluções de todo tipo (com isso o teatro voltará a ser uma operação autêntica viva, conservará essa espécie de palpitação emotiva sem a qual a arte é gratuita), todas essas tentativas, essas buscas, esses choques resultarão numa obra, numa composição inscrita, fixada em seus menores detalhes, e anotada com novos meios de notação. A composição, a criação, em vez de se fazer no cérebro de um autor, se farão na própria natureza, no espaço real, e o resultado definitivo será tão rigoroso e determinado quanto o de qualquer obra escrita, acrescido de uma imensa riqueza objetiva.
P. S. – O que pertence à encenação deve ser retomado pelo autor, e o que pertence ao autor deve igualmente ser devolvido ao autor, mas transformado também em diretor, de modo a se acabar com a absurda dualidade que existe entre diretor e autor.
Um autor que não atinge diretamente a matéria cênica, que não evolui em cena orientando-se e submetendo o espetáculo à força de sua orientação, na verdade traiu sua missão. E é justo que o ator o substitua. Mas quem perde é o teatro, que só pode sofrer com essa usurpação.
O tempo teatral que se apoia na respiração ora se precipita numa vontade de expiração maior, ora se retrai e se reduz a uma inspiração feminina e prolongada. Um gesto suspenso faz correr uma agitação furiosa e múltipla, e esse gesto traz em si mesmo a magia de sua evocação.
Mas, se nos agrada dar sugestões sobre a vida enérgica e animada do teatro, não temos a intenção de fixar leis.
A respiração humana, sem dúvida, tem princípios que se apoiam em inúmeras combinações das tríades cabalísticas. Há seis tríades principais, mas inúmeras combinações ternárias, pois é delas que se origina toda vida. E o teatro é exatamente o lugar onde essa respiração mágica se reproduz à vontade. Se a fixação de um gesto maior exige à sua volta uma respiração precipitada e múltipla, esta mesma respiração aumentada pode fazer suas ondas desdobrarem-se lentamente em torno de um gesto fixo. Há princípios abstratos mas não uma lei concreta e plástica; a única lei é a energia poética que vai do silêncio estrangulado à pintura precipitada de um espasmo, e da fala individual mezza você à tempestade pesada e ampla de um coro que lentamente se reúne.
Mas o importante é criar níveis, perspectivas que vão de uma linguagem para a outra. O segredo do teatro no espaço é a dissonância, a distinção entre os timbres e o desligamento dialético da expressão.
Aquele que tiver ideia do que é uma linguagem saberá nos compreender. Escrevemos apenas para ele. Damos além disso alguns esclarecimentos suplementares que completam o Primeiro Manifesto do Teatro da Crueldade.
Como o essencial foi dito no Primeiro Manifesto, o segundo visa apenas esclarecer certos pontos. Dá uma definição da Crueldade utilizável e propõe uma descrição do espaço cênico. Veremos a seguir o que fazemos disso tudo.
Paris, 9 de novembro de 1932
A IP
Caro amigo,
As objeções que lhe fizeram e que me fizeram contra o Manifesto do Teatro da Crueldade dizem respeito, umas, à crueldade que não se vê muito bem o que vem fazer em meu teatro, pelo menos como elemento essencial, determinante; e, outras, ao teatro tal como o concebo.
Quanto à primeira objeção, dou razão aos que a levantam, não com relação à crueldade, nem ao teatro, mas com relação ao lugar que essa crueldade ocupa em meu teatro. Eu deveria ter especificado o uso muito particular que faço dessa palavra e dizer que a emprego não num sentido episódico, acessório, por gosto sádico e perversão de espírito, por amor dos sentimentos estranhos e das atitudes malsãs, portanto de modo nenhum num sentido circunstancial; não se trata de modo algum da crueldade vício, da crueldade erupção de apetites perversos e que se expressam através de gestos sangrentos, como excrescências doentias numa carne já contaminada; mas, pelo contrário, de um sentimento desprendido e puro, um verdadeiro movimento do espírito, que seria calcado sobre o gesto da própria vida; e na ideia de que a vida, metafisicamente falando e pelo fato de admitir a extensão, a espessura, o adensamento e a matéria, admite, por consequência direta, o mal e tudo o que é inerente ao mal, ao espaço, à extensão e à matéria. Tudo isso levando à consciência e ao tormento e à consciência no tormento. E, apesar de algum cego rigor que estas contingências todas tragam consigo, a vida não poderá deixar de se exercer, caso contrário não seria vida; mas esse rigor e esta vida que continuam e se exercem na tortura e no espezinhamento de tudo, esse sentimento implacável e puro, é a crueldade.
Portanto eu disse “crueldade” como poderia ter dito “vida” ou como teria dito “necessidade”, porque quero indicar sobretudo que para mim o teatro é ato e emanação perpétua, que nele nada existe de imóvel, que o identifico com um ato verdadeiro, portanto vivo, portanto mágico.
E procuro tecnicamente e praticamente todos os meios de aproximar o teatro da ideia superior, talvez excessiva, mas de qualquer modo viva e violenta, que faço dele.
Quanto à própria redação do Manifesto, reconheço que é abrupta e em parte falha.
Afirmo princípios rigorosos, inesperados, de aspecto rebarbativo e terrível, e, no momento em que se espera que os justifique, passo ao princípio seguinte.
Em suma, a dialética do Manifesto é fraca. Pulo sem transição de uma ideia para outra. Nenhuma necessidade interior justifica a disposição adotada.
No que diz respeito à última objeção, pretendo que o diretor, transformado numa espécie de demiurgo, tendo na cabeça a ideia de uma pureza implacável, de chegar a um resultado a qualquer preço se ele realmente pretende ser diretor, portanto um homem de matéria e de objetos, deve cultivar no domínio físico uma pesquisa do movimento intenso, do gesto patético e preciso, que equivale no plano psicológico ao rigor moral mais absoluto e íntegro e, no plano cósmico, ao desencadeamento de certas forças cegas, que acionam o que devem acionar e que trituram e queimam à sua passagem o que devem triturar e queimar.
E eis a conclusão geral.
O teatro não é mais uma arte; ou é uma arte inútil. É sob todos os pontos conforme à ideia ocidental de arte. Estamos fartos de sentimentos decorativos e inúteis, de atividades sem objetivo, unicamente devotadas ao agradável e ao pitoresco; queremos um teatro que aja, mas justamente num plano a ser definido.
Precisamos de uma ação verdadeira, mas sem consequência prática. Não é no plano social que a ação do teatro se desenvolve. E menos ainda no plano moral e psicológico.
Vê-se então que o problema não é simples; mas que pelo menos nisso nos seja feita justiça: por mais caótico, impenetrável e rebarbativo que seja nosso Manifesto, ele não se esquiva da verdadeira questão, pelo contrário, ataca-a de frente, o que há muito tempo nenhum homem de teatro ousou fazer. Ninguém até aqui abordou o próprio princípio do teatro, que é metafísico; e, se há tão poucas peças de teatro válidas, não é por falta de talento ou de autores.
Deixando-se de lado a questão do talento, há no teatro europeu um erro fundamental de princípio; e este erro está ligado a toda uma ordem de coisas em que a ausência de talento surge como consequência e não simples acidente.
Se esta época se desvia e se desinteressa do teatro é porque o teatro deixou de representá-la. Ela já não espera que ele lhe forneça os Mitos em que poderia se apoiar.
Vivemos uma época provavelmente única na história do mundo, em que o mundo passado pela peneira vê desmoronarem seus velhos valores. A vida calcinada dissolve-se pela base. E isso, no plano moral ou social, traduz-se por um monstruoso desencadear de apetites, uma liberação dos mais baixos instintos, um crepitar de vidas queimadas e que se expõem prematuramente ao fogo.
O interessante nos acontecimentos atuais não são os acontecimentos em si, mas o estado de ebulição moral em que eles fazem os espíritos caírem, o grau de extrema tensão. É o estado de caos consciente em que não param de nos mergulhar.
E tudo isso que abala nosso espírito sem o fazer perder o equilíbrio é para ele um meio patético de traduzir a palpitação inata da vida.
Pois bem, é dessa atualidade patética e mítica que o teatro se desviou: e é com justa razão que o público se afasta de um teatro que ignora a tal ponto a atualidade.
Podemos portanto repreender o teatro, tal como é praticado, por uma terrível falta de imaginação. O teatro deve igualar-se à vida, não à vida individual, ao aspecto individual da vida em que triunfam as PERSONALIDADES, mas uma espécie de vida liberada, que varre a individualidade humana e em que o homem nada mais é que um reflexo. Criar Mitos, esse é o verdadeiro objetivo do teatro, traduzir a vida sob seu aspecto universal, imenso, e extrair dessa vida imagens em que gostaríamos de nos reencontrar.
E com isso chegar a uma espécie de similitude geral e tão poderosa que produza instantaneamente seu efeito.
Que ela nos libere, a nós, num Mito que tenha sacrificado nossa pequena individualidade humana, como Personagens vindas do Passado, com forças reencontradas no Passado.
Paris, 28 de maio de 1933
AJ.P.
Caro amigo,
Eu não disse que queria agir diretamente sobre a época; disse que o teatro que queria fazer pressupunha, para ser possível, para ser aceito pela época, uma outra forma de civilização.
Mas sem representar sua época ele pode levar à transformação profunda das ideias, dos costumes, das crenças, dos princípios sobre os quais repousa o espírito do tempo. Em todo caso, isso não me impede de fazer o que quero fazer e de fazê-lo rigorosamente. Farei aquilo com que sonhei, ou não farei nada.
Quanto à questão do espetáculo, não me é possível dar esclarecimentos suplementares. E por duas razões:
1) A primeira é que, por uma vez, o que quero fazer é mais fácil de fazer do que de dizer.
2) A segunda é que não quero correr o risco de ser plagiado, como já me aconteceu várias vezes.
Para mim, só tem o direito de se dizer autor, isto é, criador, aquele a quem cabe o manejo direto da cena. E é exatamente aqui que se situa o ponto vulnerável do teatro tal como é considerado não apenas na França mas na Europa e mesmo em todo o Ocidente: o teatro ocidental só reconhece como linguagem, só atribui as faculdades e virtudes de uma linguagem, só permite que se chame linguagem, com essa espécie de dignidade intelectual que em geral se atribui a essa palavra, a linguagem articulada, articulada gramaticalmente, ou seja, a linguagem da palavra, e da palavra escrita, que, pronunciada ou não pronunciada, não tem mais valor do que se fosse apenas escrita.
No teatro tal como o concebemos aqui, o texto é tudo. É entendido, é definitivamente aceito e isso passou para os costumes e para o espírito, tem condição de valor espiritual o fato de a linguagem das palavras ser a linguagem maior. Ora, mesmo do ponto de vista do Ocidente é preciso admitir que a palavra se ossificou, que as palavras, todas as palavras, se congelaram, se enfurnaram em seu significado, numa terminologia esquemática e restrita. Para o teatro, tal como é praticado aqui, uma palavra escrita vale tanto quanto a mesma palavra pronunciada. O que leva alguns amantes do teatro a dizer que uma peça lida proporciona alegrias mais precisas, maiores do que a mesma peça representada. Tudo o que diz respeito à enunciação particular de uma palavra, à vibração que ela pode difundir no espaço escapa-lhes, assim como tudo o que, por isso, é capaz de acrescentar ao pensamento. Uma palavra assim entendida só tem um valor discursivo, ou seja, de elucidação. E, nessas condições, não é exagero dizer que, dada sua terminologia bem definida e bem acabada, a palavra existe para deter o pensamento, ela o cerca mas o termina; é, em suma, um resultado.
Não é por nada, como se vê, que a poesia se retirou do teatro. Não é por simples acaso que, há tanto tempo, qualquer poeta dramático deixou de se manifestar. A linguagem da palavra tem suas leis. Habituamo-nos nos últimos quatrocentos anos ou mais, principalmente na França, a só usar as palavras no teatro num sentido de definição. Fez-se com que a ação girasse demais em torno de temas psicológicos cujas combinações essenciais não são inúmeras, longe disso. O teatro foi muito habituado à falta de curiosidade e de imaginação.
O teatro, assim como a palavra, tem necessidade de ser deixado livre.
A obstinação em fazer que as personagens dialoguem sobre sentimentos, paixões, apetites e impulsos de ordem estritamente psicológica, em que uma palavra substitui inúmeras mímicas, uma vez que estamos no domínio da precisão, foi por causa dessa obstinação que o teatro perdeu sua verdadeira razão de ser e que estamos desejando um silêncio em que possamos ouvir melhor a vida. É no diálogo que a psicologia ocidental se expressa; e a obsessão pela palavra clara que diga tudo leva ao ressecamento das palavras.
O teatro oriental soube conservar um certo valor expansivo das palavras, uma vez que na palavra o sentido claro não é tudo, mas sim a música da palavra, que fala diretamente ao inconsciente. Assim, no teatro oriental não existe linguagem da palavra, mas uma linguagem de gestos, atitudes, signos que, do ponto de vista do pensamento em ação, têm tanto valor expansivo e revelador quanto a outra. No Oriente coloca-se essa linguagem de signos acima da outra, atribui-se a essa linguagem de signos poderes mágicos imediatos. Convida-se essa linguagem a dirigir-se não apenas ao espírito, mas também aos sentidos, e a atingir, através dos sentidos, regiões ainda mais ricas e fecundas da sensibilidade em pleno movimento.
Portanto, se aqui o autor é aquele que dispõe da linguagem da palavra e se o diretor é seu escravo, o que existe é uma simples questão de palavras. Há uma confusão quanto aos termos, devida ao fato de, para nós, e conforme o sentido que em geral se atribui ao termo diretor, este ser apenas um artesão, um adaptador, uma espécie de tradutor eternamente dedicado a fazer uma obra dramática passar de uma linguagem para outra; e esta confusão só será possível, e o diretor só será obrigado a se apagar diante do autor, enquanto se entender que a linguagem das palavras é superior às outras, enquanto o teatro não admitir outra linguagem além dela.
Mas, se voltarmos, por pouco que seja, às fontes respiratórias, plásticas, ativas da linguagem, se relacionarmos as palavras aos movimentos físicos que lhes deram origem, se o aspecto lógico e discursivo da palavra desaparecer sob seu aspecto físico e afetivo, isto é, se as palavras em vez de serem consideradas apenas pelo que dizem gramaticalmente falando forem ouvidas sob seu ângulo sonoro, forem percebidas como movimentos, e se esses movimentos forem assimilados a outros movimentos diretos e simples tal como os temos em todas as circunstâncias da vida e como os autores não os têm suficientes em cena, a linguagem da literatura se recomporá, se tornará viva; e ao lado disso, como nas telas de alguns velhos pintores, os próprios objetos começarão a falar. Em vez de fazer parte do cenário, a luz assumirá a aparência de verdadeira linguagem e as coisas da cena, palpitantes de significação, se ordenarão, mostrarão figuras. E dessa linguagem imediata e física o diretor é o único a dispor. E essa é, para ele, a ocasião de criar numa espécie de autonomia completa.
De qualquer modo, seria singular que, num domínio mais próximo da vida do que o outro, aquele que é senhor nesse domínio, isto é, o diretor, devesse em todas as ocasiões ceder a primazia ao autor que, essencialmente, trabalha no abstrato, ou seja, no papel. Mesmo que não houvesse no ativo da encenação a linguagem dos gestos, que iguala e supera a das palavras, qualquer encenação muda deveria, como seu movimento, suas múltiplas personagens, suas iluminações, seus cenários, rivalizar com o que existe de mais profundo em pinturas como As filhas de Loth, de Lucas de Leiden, como certos Sabás de Goya, certas Ressurreições e Transfigurações de El Greco, como a A tentação de Santo Antão de Bosch e a inquietante e misteriosa Dulle Griet de Brueghel, o Velho, em que um clarão torrencial e vermelho, embora localizado em certas partes da tela, parece surgir de todos os lados e, através de um certo procedimento técnico, bloquear a um metro da tela o olho perplexo do espectador. E aí por todos os lados fervilha o teatro. Uma agitação de vida interrompida por uma auréola de luz branca se precipita de repente sobre submundos inomináveis. Um ruído lívido e rangente eleva-se dessa bacanal de larvas em que equimoses de pele humana nunca têm a mesma cor. A verdadeira vida é móvel e branca; a vida oculta é lívida e fixa, possui todas as atitudes possíveis de uma inumerável imobilidade. É teatro mudo, mas que fala muito mais do que se tivesse recebido uma linguagem para se expressar. Todas essas pinturas têm duplo sentido, e além de seu aspecto puramente pictórico comportam um ensinamento e revelam aspectos misteriosos ou terríveis da natureza e do espírito.
Mas, felizmente para o teatro, a encenação é muito mais do que isso. Pois, além de uma representação com meios materiais e espessos, a encenação pura contém, através de gestos, de jogos fisionômicos e atitudes móveis, através de uma utilização concreta da música, tudo o que a palavra contém, e além disso dispõe da própria palavra. Repetições rítmicas de sílabas, modulações particulares da voz envolvendo o sentido exato das palavras, precipitam em maior número as imagens no cérebro, em favor de um estado mais ou menos alucinatório, e impõem à sensibilidade e ao espírito uma maneira de alteração orgânica que contribui para tirar da poesia escrita a gratuidade que geralmente a caracteriza. E é em torno dessa gratuidade que se concentra todo o problema do teatro.
O TEATRO DA CRUELDADE
(Segundo Manifesto)
Confesso ou não-confesso, consciente ou inconsciente, o estado poético, um estado transcendente de vida, é no fundo aquilo que o público procura através do amor, do crime, das drogas, da guerra ou da insurreição.
O Teatro da Crueldade foi criado para devolver ao teatro a noção de uma vida apaixonada e convulsa; e é neste sentido de rigor violento, de condensação extrema dos elementos cênicos, que se deve entender a crueldade sobre a qual ele pretende se apoiar.
Essa crueldade, que será, quando necessário, sangrenta, mas que não o será sistematicamente, confunde-se portanto com a noção de uma espécie de árida pureza moral que não teme pagar pela vida o preço que deve ser pago.
1) DO PONTO DE VISTA DO CONTEÚDO
Ou seja, dos assuntos e temas tratados:
O Teatro da Crueldade escolherá assuntos e temas que respondam à agitação e à inquietude características de nossa época.
Pretende não abandonar para o cinema a tarefa de produzir os Mitos do homem e da vida modernos. Mas fará isso de um modo que lhe é próprio, isto é, em oposição à tendência econômica, utilitária e técnica do mundo, voltará a pôr em moda as grandes preocupações e as grandes paixões essenciais que o teatro moderno cobriu com o verniz do homem falsamente civilizado.
Esses temas serão cósmicos, universais, interpretados segundo os textos mais antigos, tirados das velhas cosmogonias mexicana, hindu, judaica, iraniana, etc.
Renunciando ao homem psicológico, ao caráter e aos sentimentos bem nítidos, é ao homem total e não ao homem social, submetido às leis e deformado pelas religiões e pelos preceitos, que esse teatro se dirigirá.
E no homem ele fará entrar não apenas o reto mas também o verso do espírito; a realidade da imaginação e dos sonhos aparecerá nele em igualdade de condições com a vida.
Além disso, as grandes transformações sociais, os conflitos de povo com povo e de raça com raça, as forças naturais, a intervenção do acaso, o magnetismo da fatalidade manifestar-se-ão nesse teatro quer indiretamente, sob a agitação e os gestos de personagens ampliadas à dimensão de deuses, de heróis, ou monstros, às dimensões míticas, quer diretamente, sob a forma de manifestações materiais obtidas por meios científicos novos.
Esses deuses ou heróis, esses monstros, essas forças naturais e cósmicas serão interpretadas segundo as imagens dos textos sagrados mais antigos e das velhas cosmogonias.
2) DO PONTO DE VISTA DA FORMA
Além disso, essa necessidade do teatro de se reabastecer nas fontes de uma poesia eternamente apaixonante, e sensível para as porções mais afastadas e dispersas do público, sendo realizada através do retorno aos velhos Mitos primitivos, pediremos que a encenação e não o texto se encarregue de materializar e sobretudo atualizar esses velhos conflitos, ou seja, esses temas serão transportados diretamente para o teatro e materializados em movimentos, expressões e gestos antes de se transferirem para as palavras.
Com isso, renunciaremos à superstição teatral do texto e à ditadura do escritor.
E assim reencontraremos o velho espetáculo popular traduzido e sentido diretamente pelo espírito, sem as deformações da linguagem e os escolhos do discurso e das palavras.
Pretendemos basear o teatro antes de mais nada no espetáculo, e no espetáculo introduziremos uma nova noção do espaço utilizado em todos os planos possíveis e em todos os graus da perspectiva, em profundidade e em altura, e a essa noção virá se somar uma ideia particular do tempo acrescida à do movimento:
Num tempo dado, ao maior número possível de movimentos acrescentaremos o maior número possível de imagens físicas e de significações ligadas a esses movimentos.
As imagens e os movimentos empregados não existirão apenas para o prazer exterior dos olhos e dos ouvidos, mas para o prazer mais secreto e proveitoso do espírito.
Assim, o espaço teatral será utilizado não apenas em suas dimensões e em seu volume mas, por assim dizer, em seus subterrâneos.
O encavalamento das imagens e dos movimentos levará, através de conluios de objetos, silêncios, gritos e ritmos, à criação de uma verdadeira linguagem física com base em signos e não mais em palavras.
É preciso que se entenda que, nessa quantidade de movimentos e de imagens tomados num tempo determinado, introduzimos tanto o silêncio e o ritmo quanto uma certa vibração e uma certa agitação material, composta por objetos e gestos realmente feitos e realmente utilizados. E pode-se dizer que o espírito dos mais antigos hieróglifos presidirá a criação dessa linguagem teatral pura.
Todos os públicos populares sempre se mostraram ávidos por expressões diretas e imagens; e o discurso articulado, as expressões verbais explícitas intervirão em todas as partes claras e nitidamente elucidadas da ação, nas partes em que a vida repousa e em que a consciência intervém.
Mas, ao lado desse sentido lógico, as palavras serão tomadas num sentido encantatório, verdadeiramente mágico – por sua forma, suas emanações sensíveis e já não apenas por seu sentido.
As aparições efetivas de monstros, as bacanais de heróis e de deuses, as manifestações plásticas de forças, as intervenções explosivas de uma poesia e de um humor encarregados de desorganizar e de pulverizar as aparências, segundo o princípio da anarquia, analogia de toda verdadeira poesia, só terão sua verdadeira magia numa atmosfera de sugestão hipnótica em que o espírito é atingido através de uma pressão direta sobre os sentidos.
Se, no teatro digestivo de hoje, os nervos, ou seja, uma certa sensibilidade fisiológica, são deixados deliberadamente de lado, entregues à anarquia individual do espectador, o Teatro da Crueldade pretende voltar a usar todos os velhos meios experimentados e mágicos de ganhar a sensibilidade.
Esses meios, que consistem em intensidades de cores, de luzes ou de sons, que utilizam a vibração, a trepidação, a repetição quer de um ritmo musical, quer de uma frase falada, que fazem intervir a tonalidade ou o envolvimento comunicativo de uma iluminação, só podem ter seu pleno efeito através da utilização das dissonâncias.
Mas essas dissonâncias, em vez de se limitarem ao domínio de um único sentido, nós as faremos cavalgar de um sentido a outro, de uma cor a um som, de uma palavra a uma luz, de uma trepidação de gestos a uma tonalidade plana de sons, etc, etc.
O espetáculo, assim composto, assim construído, se estenderá, por supressão do palco, à sala inteira do teatro e, a partir do chão, alcançará as muralhas através de leves passarelas, envolverá materialmente o espectador, mantendo-o num banho constante de luz, imagens, movimentos e ruídos. O cenário será constituído pelas próprias personagens, ampliadas ao tamanho de gigantescos bonecos, e por paisagens de luzes móveis incidindo sobre objetos e máscaras em contínuo deslocamento.
E, assim como não haverá intervalo, nem lugar desocupado no espaço, não haverá intervalo nem lugar vazio no espírito ou na sensibilidade do espectador. Isto é, entre a vida e o teatro já não haverá uma separação nítida, já não haverá solução de continuidade. E quem já viu ser rodada uma cena de filme entenderá perfeitamente o que queremos dizer.
Queremos dispor, para um espetáculo de teatro, dos mesmos meios materiais que, em iluminação, em figuração, em riquezas de todo tipo, são diariamente desperdiçados por películas em que tudo o que há de ativo, de mágico em semelhante aparato, fica perdido para sempre.
* *
O primeiro espetáculo do Teatro da Crueldade se intitulará:
A conquista do México
Porá em cena acontecimentos e não seres humanos. Os seres humanos terão seu lugar com sua psicologia e suas paixões, mas considerados como a emanação de certas forças e sob o ângulo dos acontecimentos e da fatalidade histórica em que representaram seus papéis.
Este tema foi escolhido:
1) Por causa de sua atualidade e pelas alusões que permite a problemas de interesse vital para a Europa e para o mundo.
Do ponto de vista histórico, A conquista do México coloca a questão da colonização. Faz reviver, de modo brutal, implacável, sangrento, a fatuidade persistente da Europa. Permite esvaziar a ideia que a Europa tem de sua própria superioridade. Opõe o cristianismo a religiões muito mais antigas. Faz justiça às falsas concepções que o Ocidente possa ter tido do paganismo e de certas religiões naturais e ressalta de maneira patética, ardorosa, o esplendor e a poesia sempre atuais da velha base metafísica sobre a qual essas religiões foram constituídas.
2) Ao colocar a questão terrivelmente atual da colonização e do direito que um continente acredita ter de subjugar outro, essa peça coloca a questão da superioridade, esta real, de certas raças sobre outras e mostra a filiação interna que liga o gênio de uma raça a formas precisas de civilização. Ela opõe a tirânica anarquia dos colonizadores à profunda harmonia moral dos futuros colonizados.
Depois, diante da desordem da monarquia europeia da época, baseada nos princípios materiais mais injustos e grosseiros, ela lança luz sobre a hierarquia orgânica da monarquia asteca estabelecida em indiscutíveis princípios espirituais.
Do ponto de vista social, ela mostra a paz de uma sociedade que sabia dar de comer a todo o mundo e na qual a Revolução sempre se realizou, desde as origens.
Deste choque entre a desordem moral e a anarquia católica com a ordem paga, essa peça pode fazer jorrar conflagrações inéditas de forças e imagens, salpicadas aqui e ali por diálogos brutais. E isso através de lutas de homem a homem, que carregam em si, como estigmas, as ideias mais opostas.
O conteúdo moral e o interesse de atualidade de tal espetáculo estando suficientemente destacados, insistiremos no valor espetacular dos conflitos que ele pretende encenar.
Primeiro, há as lutas interiores de Montezuma, o rei dilacerado, sobre cujos móbeis a história não conseguiu nos esclarecer.
Serão mostradas, de modo pictórico, objetivo, suas lutas e sua discussão simbólica com os mitos visuais da astrologia.
Enfim, além de Montezuma, há a multidão, as diversas camadas da sociedade, a revolta do povo contra o destino, representado por Montezuma, os clamores dos incrédulos, as argúcias dos filósofos e dos sacerdotes, as lamentações dos poetas, a traição dos comerciantes e dos burgueses, a duplicidade e a covardia sexual das mulheres.
O espírito das multidões, o sopro dos acontecimentos se deslocarão em ondas materiais sobre o espetáculo, fixando aqui e ali certas linhas de força, e sobre essas ondas, a consciência diminuída, revoltada ou desesperada de alguns sobrenadará como uma casca de arroz.
Teatralmente, o problema é determinar e harmonizar essas linhas de força, concentrá-las e delas extrair melodias sugestivas.
Essas imagens, esses movimentos, essas danças, esses ritos, essas músicas, essas melodias truncadas, esses diálogos que se interrompem serão cuidadosamente anotados e descritos tanto quanto possível com palavras e, principalmente, nas partes não dialogadas do espetáculo, sendo que o princípio é conseguir anotar ou cifrar, como numa partitura musical, o que não é descrito através das palavras.
UM ATLETISMO AFETIVO
É preciso admitir, no ator, uma espécie de musculatura afetiva que corresponde a localizações físicas dos sentimentos.
O ator é como um verdadeiro atleta físico, mas com a ressalva surpreendente de que ao organismo do atleta corresponde um organismo afetivo análogo, e que é paralelo ao outro, que é como o duplo do outro embora não aja no mesmo plano.
O ator é como um atleta do coração.
Também para ele vale a divisão do homem total em três mundos; e a esfera afetiva lhe pertence propriamente.
Ela lhe pertence organicamente.
Os movimentos musculares do esforço são como a efígie de um outro esforço duplo, e que nos movimentos do jogo dramático se localizam nos mesmos pontos.
Enquanto o atleta se apoia para correr, o ator se apoia para lançar uma imprecação espasmódica, mas cujo curso é jogado para o interior.
Todas as surpresas da luta, da luta livre, dos cem metros, do salto em altura encontram no movimento das paixões bases orgânicas análogas, têm os mesmos pontos físicos de sustentação. Cabe ainda a ressalva de que aqui o movimento é inverso e, com respeito à respiração, por exemplo, enquanto no ator o corpo é apoiado pela respiração, no lutador, no atleta físico é a respiração que se apoia no corpo.
A questão da respiração é de fato primordial, ela é inversamente proporcional à importância da representação exterior.
Quanto mais a representação é sóbria e contida, mais a respiração é ampla e densa, substancial, sobrecarregada de reflexos.
E a uma representação arrebatada, volumosa e que se exterioriza corresponde uma respiração de ondas curtas e comprimidas.
Não há dúvida de que a cada sentimento, a cada movimento do espírito, a cada alteração da afetividade humana corresponde uma respiração própria.
Ora, os tempos da respiração têm um nome, como nos mostra a Cabala; são eles que dão forma ao coração humano e sexo aos movimentos das paixões. O ator não passa de um empírico grosseiro, um curandeiro guiado por um instinto mal conhecido.
No entanto, por mais que se pense o contrário, não se trata de ensiná-lo a delirar.
Trata-se de acabar com essa espécie de ignorância desvairada em meio à qual avança todo o teatro contemporâneo, como em meio a uma sombra, em que ele não para de tropeçar. – O ator dotado encontra em seu instinto o modo de captar e irradiar certas forças; mas essas forças, que têm seu trajeto material de órgãos e nos órgãos, ele se espantaria se lhe fosse revelado que elas existem, pois nunca pensou que pudessem existir.
Para servir-se de sua afetividade como o lutador usa sua musculatura, é preciso ver o ser humano como um Duplo, como o Kha dos Embalsamados do Egito, como um espectro perpétuo em que se irradiam as forças da afetividade.
Espectro plástico e nunca acabado cujas formas o ator verdadeiro imita, ao qual impõe as formas e a imagem de sua sensibilidade.
É sobre esse duplo que o teatro influi, essa efígie espectral que ele modela, e como todos os espectros esse duplo tem uma grande memória. A memória do coração é durável e, sem dúvida, o ator pensa com o coração, mas aqui o coração é preponderante.
Isso significa que no teatro, mais do que em qualquer outro lugar, é do mundo afetivo que o ator deve tomar consciência, mas atribuindo a esse mundo virtudes que não são as de uma imagem, e que comportam um sentido material.
Quer a hipótese seja correta ou não, o importante é que ela seja verificável.
Pode-se fisiologicamente reduzir a alma a um novelo de vibrações.
É possível ver esse espectro de alma como intoxicado pelos gritos que ele propaga; se não fosse assim, a que corresponderiam os mantras hindus, as consonâncias, as acentuações misteriosas, em que o subterrâneo material da alma, acuado em seus covis, vem contar seus segredos à luz do dia.
A crença em uma materialidade fluídica da alma é indispensável ao ofício do ator. Saber que uma paixão é matéria, que ela está sujeita às flutuações plásticas da matéria, dá sobre as paixões um domínio que amplia nossa soberania.
Alcançar as paixões através de suas forças em vez de considerá-las como puras abstrações confere ao ator um domínio que o iguala a um verdadeiro curandeiro.
Saber que existe uma saída corporal para a alma permite alcançar essa alma num sentido inverso e reencontrar o seu ser através de uma espécie de analogias matemáticas.
Conhecer o segredo do tempo das paixões, dessa espécie de tempo musical que rege seu batimento harmônico, é um aspecto do teatro em que nosso teatro psicológico moderno há muito não pensa.
Ora, esse tempo por analogia pode ser reencontrado; e é reencontrado nos seis modos de dividir e manter a respiração tal como um elemento precioso. Toda respiração, seja qual for, tem três tempos, assim como na base de toda criação existem três princípios que, mesmo na respiração, podem encontrar a figura que lhes corresponde.
A Cabala divide a respiração humana em seis principais arcanos, o primeiro dos quais, chamado de Grande Arcano, é o da criação:
| ANDRÓGINO | MACHO | FÊMEA |
| EQUILIBRADO | EXPANSIVO | ATRATIVO |
| NEUTRO | POSITIVO | NEGATIVO |
Assim, tive a ideia de empregar o conhecimento da respiração não apenas no trabalho do ator, mas também na preparação ao ofício de ator. – Pois, se o conhecimento da respiração ilumina a cor da alma, com maior razão pode provocar a alma, facilitar seu desenvolvimento.
Não há dúvida de que, se a respiração acompanha o esforço, a produção mecânica da respiração provocará o nascimento, no organismo que trabalha, de uma qualidade correspondente de esforço.
O esforço terá a cor e o ritmo da respiração artificialmente produzida.
O esforço por simpatia acompanha a respiração e, conforme a qualidade do esforço a ser produzido, uma emissão preparatória de respiração tornará fácil e espontâneo esse esforço. Insisto na palavra espontâneo, pois a respiração reacende a vida, atiça-a em sua substância.
O que a respiração voluntária provoca é uma reaparição espontânea da vida. Como uma voz nos corredores infinitos em cujas margens dormem guerreiros. O sino matinal ou a trompa de guerra agem sobre eles para lançá-los regularmente na refrega. Mas, se uma criança de repente grita “olha o lobo”, esses mesmos guerreiros despertam. Despertam no meio da noite. Alarme falso: os soldados voltam. Mas não: chocam-se contra grupos hostis, caíram numa verdadeira armadilha. A criança gritou no sonho. Seu inconsciente mais sensível e flutuante topou com uma tropa de inimigos. Assim, por meios indiretos, a mentira provocada do teatro cai sobre uma realidade mais temível que a outra e da qual a vida não suspeitara.
Assim, pela acuidade aguçada da respiração o ator cava sua personalidade.
Pois a respiração que alimenta a vida permite galgar as etapas degrau por degrau. E através da respiração o ator pode repenetrar num sentimento que ele não tem, sob a condição de combinar judiciosamente seus efeitos; e de não se enganar de sexo. É que a respiração é masculina ou feminina; menos freqüentemente, andrógina. Mas poderá ser necessário descrever preciosos estados suspensos.
A respiração acompanha o sentimento e pode-se penetrar no sentimento pela respiração, sob a condição de saber discriminar, entre as respirações, aquela que convém a esse sentimento.
Como dissemos, há seis combinações principais de respiração:
| NEUTRO | MASCULINO | FEMININO |
| NEUTRO | FEMININO | MASCULINO |
| MASCULINO | NEUTRO | FEMININO |
| FEMININO | NEUTRO | MASCULINO |
| MASCULINO | FEMININO | NEUTRO |
| FEMININO | MASCULINO | NEUTRO |
E há um sétimo estado situado acima das respirações e que, através da porta da Guna superior, o estado de Sativa, reúne o manifesto com o não-manifesto.
Se alguém disser que o ator, não sendo metafísico por essência, não precisa preocupar-se com esse sétimo estado, responderemos que, a nosso ver, e embora o teatro seja o símbolo mais perfeito e mais completo da manifestação universal, o ator traz em si o princípio desse estado, desse caminho de sangue pelo qual ele penetra em todos os outros cada vez que seus órgãos potenciais despertam de seu sono.
Na maior parte do tempo, sem dúvida, o instinto comparece para suprir essa ausência de uma noção que não se pode definir; e não é preciso cair de tão alto para emergir nas paixões medianas como aquelas de que o teatro contemporâneo está cheio. Do mesmo modo, o sistema das respirações não é feito para as paixões medianas. E não é para uma declaração de amor adúltero que nos prepara a cultura repetida das respirações, segundo um procedimento muitas vezes empregado.
Uma emissão repetida sete e doze vezes nos predispõe a uma qualidade sutil de gritos, a desesperadas reivindicações da alma.
E nós localizamos essa respiração, nós a dividimos em estados de contração e descontração combinados. Usamos nosso corpo como um crivo pelo qual passam a vontade e o afrouxamento da vontade. No tempo de pensar em querer, projetamos com força um tempo masculino, seguido sem solução de continuidade demasiado sensível por um tempo feminino prolongado.
No tempo de pensar em não querer, ou mesmo de não pensar, uma respiração feminina fatigada nos faz aspirar um mofo de porão, o hálito úmido de uma floresta; e nesse mesmo tempo prolongado emitimos uma expiração pesada; enquanto isso, os músculos de todo o corpo, vibrando por regiões de músculos, não pararam de trabalhar.
O importante é tomar consciência dessas localizações do pensamento afetivo. Um meio de reconhecimento é o esforço; e os mesmos pontos sobre os quais incide o esforço físico são aqueles sobre os quais incide a emanação do pensamento afetivo. Os mesmos que servem de trampolim para a emanação de um sentimento.
Deve-se observar que tudo o que é feminino, o que é abandono, angústia, apelo, invocação, o que tende para alguma coisa num gesto de súplica, baseia-se também nos pontos do esforço, mas como um mergulhador palmilha o fundo do mar para depois voltar à superfície: há como que um jato de vazio no lugar onde estava a tensão.
Mas nesse caso o masculino volta para povoar o lugar do feminino como uma sombra; enquanto o estado afetivo é masculino, o corpo interior compõe uma espécie de geometria inversa, uma imagem do estado invertido.
Tomar consciência da obsessão física, dos músculos tocados pela afetividade, equivale, como no jogo das respirações, a desencadear essa afetividade potencial, a lhe dar uma amplitude surda mas profunda, e de uma violência incomum.
E assim qualquer ator, mesmo o menos dotado, pode, através desse conhecimento físico, aumentar a densidade interior e o volume de seu sentimento, e uma tradução ampliada segue-se a este apossamento orgânico.
Com esse objetivo, não é mau conhecer alguns pontos de localização.
O homem que levanta pesos, é com os rins que o faz, é com um desancamento dos rins que ele sustenta a força multiplicada de seus braços; e é curioso constatar que, inversamente, todo sentimento feminino que cala fundo, o soluço, a desolação, a respiração espasmódica, o transe, é na altura dos rins que ele realiza seu vazio, nesse mesmo lugar onde a acupuntura chinesa dilui a obstrução do rim. A medicina chinesa procede apenas através do cheio e do vazio. Côncavo e convexo. Tenso e relaxado. Yin e Yang. Masculino e feminino.
Outro ponto de irradiação: o ponto da raiva, do ataque, da mordacidade é o centro do plexo solar. É aí que se apoia a cabeça para lançar moralmente seu veneno.
O ponto do heroísmo e do sublime é também o da culpa. É onde batemos no peito. O lugar onde se recalca a raiva, aquela que consome e não avança.
Mas onde a raiva avança a culpa recua; é o segredo do cheio e do vazio.
Uma raiva superaguda e que se desmembra começa por um neutro estalante e se localiza no plexo por um vazio rápido e feminino, a seguir é bloqueada nas duas omoplatas, volta como um bumerangue e lança fagulhas masculinas, mas que se consomem sem avançar. A fim de perder o tom mordaz, conservam a correlação da respiração masculina: expiram com ênfase.
Quis dar apenas alguns exemplos em torno de alguns princípios fecundos que constituem a matéria deste texto técnico. Outros erigirão, se tiverem tempo, a completa anatomia do sistema. Há trezentos e oitenta pontos na acupuntura chinesa, dos quais setenta e três principais e que servem à terapia corrente. Há um número bem menor de saídas grosseiras para nossa humana afetividade.
Um número bem menor de apoios que possamos indicar e nos quais se baseará o atletismo da alma.
O segredo consiste em exacerbar esses apoios como uma musculatura que se esfola.
O resto se faz com gritos.
Não basta que essa magia do espetáculo prenda o espectador, ela não o aprisionará se não se souber onde pegá-lo. Basta de magia casual, de uma poesia que não tem a ciência para apoiá-la.
No teatro, doravante poesia e ciência devem identificar-se.
Toda emoção tem bases orgânicas. É cultivando sua emoção em seu corpo que o ator recarrega sua densidade voltaica.
Saber antecipadamente que pontos do corpo é preciso tocar significa jogar o espectador em transes mágicos. É dessa espécie preciosa de ciência que a poesia no teatro há muito se desacostumou.
Conhecer as localizações do corpo é, portanto, refazer a cadeia mágica.
E com o hieróglifo de uma respiração posso reencontrar uma ideia do teatro sagrado.
N. B. – Ninguém mais sabe gritar na Europa, e especialmente os atores em transe não sabem mais dar gritos. Quanto às pessoas que só sabem falar e que se esqueceram de que tinham um corpo no teatro, também se esqueceram de usar a garganta. Reduzidas a gargantas anormais, não é nem mesmo um órgão mas sim uma monstruosa abstração que fala: os atores, na França, agora só sabem falar.
DUAS NOTAS
É difícil dizer em que consiste essa espécie de magia, em todo caso é algo que talvez não seja especificamente cinematográfico, mas que também não pertence ao teatro, e de que apenas alguns poemas surrealistas bem sucedidos, se os houver, poderiam dar uma ideia. A qualidade poética de um filme como Animal Crackers poderia corresponder à definição do humor, se esta palavra há muito tempo não tivesse perdido seu sentido de liberação integral, de dilaceramento de toda realidade no espírito.
Para compreender a originalidade poderosa, total, definitiva, absoluta (não estou exagerando, simplesmente tento definir as coisas, e tanto pior se o entusiasmo me arrebata) de um filme como Animal Crackers e, em alguns momentos (em todo caso, em toda a parte final), como Monkey Business, seria preciso acrescentar ao humor a noção de algo inquietante e trágico, uma fatalidade (nem feliz nem infeliz, mas difícil de formular) que se esgueiraria por trás dele como a revelação de uma doença atroz num perfil de absoluta beleza.
Em Monkey Business reencontramos os Irmãos Marx, cada um com seu tipo, seguros de si e preparados, sente-se, para agarrar as circunstâncias pelo colarinho. Mas, enquanto em Animal Crackers’, e desde o começo, cada personagem quebrava a cara, aqui se assiste, durante três quartas partes do filme, ao jogo de palhaços que se divertem e fazem graça, algumas muito boas, e é apenas no fim que as coisas encorpam, que os objetos, os animais, os sons, o patrão e seus empregados, o anfitrião e seus convidados, que tudo isso se exaspera, se precipita e se revoluciona, sob os comentários ao mesmo tempo extasiados e lúcidos de um dos Irmãos Marx, arrebatado pelo espírito que ele conseguiu enfim desencadear e do qual parece ser um comentário estupefato e passageiro. Nada é tão alucinante e terrível quanto essa espécie de caça ao homem, como a luta entre rivais, a perseguição nas trevas de um estábulo, de um celeiro onde por todo lado pendem teias de aranha, enquanto homens, mulheres e animais veem-se no meio de um amontoado de objetos heteróclitos cujo movimento ou ruído terão cada um seu papel.
O fato de em Animal Crackers uma mulher de repente cair de pernas para cima, num sofá, e mostrar por um instante tudo o que gostaríamos de ver, ou de um homem de repente se jogar sobre uma mulher num salão, dar com ela alguns passos de dança e em seguida estapeá-la dentro do ritmo, mostra uma espécie de liberdade intelectual em que o inconsciente de cada personagem, comprimido pelas convenções e costumes, vinga-se e ao mesmo tempo vinga nosso inconsciente; mas o fato de em Monkev Business um homem acuado se jogar sobre uma linda mulher que encontra e dançar com ela, poeticamente, numa espécie de busca do encanto e da graça das atitudes mostra uma reivindicação espiritual dupla, e mostra tudo o que há de poético e talvez de revolucionário na graça dos Irmãos Marx.
Mas o fato de a música dançada pelo casal do homem acuado e da linda mulher ser uma música de nostalgia e evasão, uma música de alívio, uma música de liberação, indica o lado perigoso de todas essas blagues humorísticas e mostra que o espírito poético quando se exerce tende sempre a uma espécie de anarquia fervilhante, a uma desagregação integral do real pela poesia.
Se os americanos, a cujo espírito pertence esse tipo de filme, só querem entender esses filmes humoristicamente, e em matéria de humor sempre se mantêm apenas nas margens fáceis e cômicas da significação dessa palavra, pior para eles, mas isso não nos impedirá de considerar o fim de Monkey Business como um hino à anarquia e à revolta integral, o fim que põe o berro de um bezerro no mesmo nível intelectual e lhe atribui a mesma qualidade de dor lúcida que ao grito de uma mulher com medo, o fim em que nas trevas de um celeiro sujo dois criados raptores trituram à vontade os ombros nus da filha do patrão e tratam de igual para igual com o patrão desamparado, tudo isso em meio à embriaguez, também intelectual, das piruetas dos Irmãos Marx. E o triunfo de tudo isso está na espécie de exaltação ao mesmo tempo visual e sonora que todos esses acontecimentos assumem nas trevas, no grau de vibrações que eles atingem e na espécie de forte inquietação que sua reunião acaba por projetar no espírito.
Esse espetáculo é mágico como são mágicas as encantações de feiticeiros negros quando a língua que bate no palato faz chover numa paisagem; quando, diante do doente esgotado, o feiticeiro que dá à sua respiração a forma de um estranho mal-estar expulsa a doença com a respiração; é assim que no espetáculo de Jean-Louis Barrault, no momento da morte da mãe, um concerto de gritos adquire vida.
Não sei se esse feito é uma obra-prima; em todo caso, é um acontecimento. É preciso saudar como acontecimento uma tal transformação de atmosfera, em que um público ouriçado de repente mergulha às cegas e que o desarma inapelavelmente.
Há nesse espetáculo uma força secreta e que ganha o público tal como um grande amor conquista uma alma pronta para a rebelião.
Um jovem e grande amor, um jovem vigor, uma efervescência espontânea e viva circulam através de movimentos rigorosos, através de uma gesticulação estilizada e matemática como um gorjeio de pássaros cantores através de colunadas de árvores, numa floresta magicamente alinhada.
É aí, nessa atmosfera sagrada, que Jean-Louis Barrault improvisa os movimentos de um cavalo selvagem, e que de repente nos surpreendemos ao vê-lo transformado em cavalo.
Seu espetáculo demonstra a ação irresistível do gesto, demonstra vitoriosamente a importância do gesto e do movimento no espaço. Devolve à perspectiva teatral a importância que não deveria ter perdido. Faz da cena, enfim, um lugar patético e vivo.
É em relação à cena e em cena que esse espetáculo se organiza: só pode viver em cena. Mas não há um só ponto da perspectiva cênica que deixe de adquirir um sentido emocionante.
Na gesticulação animada, no descontínuo desenrolar de figuras, há uma espécie de apelo direto e físico; algo de convincente como um ditame, e que a memória não esquecerá.
Não esqueceremos mais a morte da mãe, com seus gritos que retomam, no espaço e no tempo, a épica travessia do rio, a ascensão do fogo pelas gargantas dos homens e à qual corresponde, no plano do gesto, uma outra ascensão do fogo, e sobretudo essa espécie de homem-cavalo que circula pela peça como se o próprio espírito da Fábula tivesse voltado a descer até nós.
Até agora, apenas o Teatro de Bali parecia ter mantido um vestígio desse espírito perdido.
O que importa que Jean-Louis Barrault tenha retomado o espírito religioso através de meios descritivos e profanos, se tudo o que é autêntico é sagrado, se seus gestos são tão belos que assumem um sentido simbólico?
Sem dúvida, não há símbolos no espetáculo de Jean-Louis Barrault. E, se é possível fazer uma crítica a seus gestos, é por nos darem a ilusão do símbolo, ao passo que eles circunscrevem a realidade; e é por isso que a ação desses gestos, por mais violenta e ativa que seja, acaba ficando sem prolongamentos.
Ela é sem prolongamentos porque é apenas descritiva, porque narra fatos exteriores em que as almas não intervém; porque não atinge diretamente pensamentos e almas, e é nisso, mais do que na questão de saber se essa forma de teatro é teatral, que reside a crítica que se pode fazer a ela.
Do teatro ela tem os meios – pois o teatro que abre um campo físico exige que esse campo seja preenchido, que seu espaço seja mobiliado com gestos, que se faça viver esse espaço em si mesmo e magicamente, que se perceba nele um viveiro de sons, que nele se percebam novas relações entre o som, o gesto e a voz – e é possível dizer que o teatro é isso, o que Jean-Louis Barrault fez dele.
Mas, por outro lado, do teatro essa realização não tem a cabeça, ou seja, o drama profundo, o mistério mais profundo do que as almas, o conflito dilacerante das almas em que o resto é apenas um caminho. Em que o homem não passa de simples ponto e em que as vidas se saciam em sua fonte. Mas quem bebeu da fonte da vida?
O TEATRO DE SERAPHIN
a Jean Paulhan
Há detalhes suficientes para que se compreenda.
Explicitar seria estragar a poesia da coisa.
FEMININO
É como a queixa de um abismo que se abre: a terra ferida grita, mas vozes se elevam, profundas como o buraco do abismo, e que são o buraco do abismo que grita.
Neutro. Feminino. Masculino.
Para lançar esse grito eu me esvazio.
Não de ar, mas da própria potência do ruído. Ergo à minha frente meu corpo de homem. E, lançando sobre ele o “olho” de uma horrível mensuração, ponto a ponto forço-o a entrar em mim.
O ventre, primeiro. É pelo ventre que o silêncio deve começar, à direita, à esquerda, no ponto dos estrangulamentos herniários, onde operam os cirurgiões.
O Masculino, para fazer sair o grito da força, apoiar-se-ia primeiro no ponto dos estrangulamentos, comandaria a irrupção dos pulmões na respiração e da respiração nos pulmões.
Aqui, infelizmente, acontece o contrário e a guerra que quero fazer vem da guerra que fazem contra mim.
E em meu Neutro há um massacre! Você compreende, há a imagem inflamada de um massacre que alimenta minha guerra. Minha guerra se alimenta de uma guerra, e cospe sua própria guerra.
Neutro. Feminino. Masculino. Existe nesse neutro um recolhimento, a vontade à espreita da guerra, e que fará sair a guerra, com a força de seu abalo.
O Neutro às vezes é inexistente. É um Neutro de repouso, de luz, de espaço enfim.
Entre duas respirações, o vazio se amplia, mas então ele se amplia como um espaço.
Aqui é um vazio asfixiado. O vazio apertado de uma garganta, onde a própria violência do estertor obstruiu a respiração.
É no ventre que a respiração desce e cria seu vazio de onde volta a arremessá-lo para o alto dos pulmões.
Isso significa: para gritar não preciso da força, preciso apenas da fraqueza, e a vontade partirá da fraqueza, mas viverá, a fim de recarregar a fraqueza com toda a força da reivindicação.
No entanto, e este é o segredo, assim como no teatro, a força não sairá. O masculino ativo será comprimido. E manterá a vontade enérgica da respiração. E a manterá para todo o corpo, e para o exterior haverá um quadro do desaparecimento da força ao qual os sentidos acreditarão assistir.
Ora, do vazio do meu ventre alcancei o vazio que ameaça o alto dos pulmões.
Daí, sem solução de continuidade sensível, a respiração cai sobre os rins, primeiro à esquerda, é um grito feminino, depois à direita, no ponto onde a acupuntura chinesa espeta a fadiga nervosa, quando ela indica um mau funcionamento do baço, das vísceras, quando ela revela uma intoxicação.
Agora posso encher meus pulmões num barulho de catarata, cuja irrupção destruiria meus pulmões se o grito que quis dar não fosse um sonho.
Massageando os dois pontos do vazio no ventre e a partir daí, sem passar para os pulmões, massageando os dois pontos um pouco acima dos rins, eles fizeram nascer em mim a imagem desse grito armado em guerra, desse terrível grito subterrâneo.
Por esse grito, eu preciso cair.
É o grito do guerreiro fulminado que num barulho de vidros embriagado roça de passagem as muralhas quebradas.
Caio.
Caio mas não tenho medo.
Livro-me do medo no barulho da raiva, num solene barrido.
Neutro. Feminino. Masculino.
O Neutro era pesado e fixo. O Feminino é tonitruante e terrível, como o uivo de um fabuloso molosso, atarracado como as colunas cavernosas, compacto como o ar que mura as abóbadas gigantescas do subterrâneo.
Grito em sonho, mas sei que estou sonhando, e nos dois lados do sonho faço reinar minha vontade.
Grito numa armadura de ossos, nas cavernas de minha caixa torácica que, aos olhos perplexos de minha cabeça, assume uma importância desmedida.
Mas com esse grito fulminado, para gritar é preciso que eu caia.
Caio num subterrâneo e não saio, não saio mais.
Nunca mais no Masculino.
Eu disse: o Masculino não é nada. Ele mantém força, mas me sepulta na força.
E, quanto ao exterior, é uma batida, uma larva de ar, um glóbulo sulfuroso que explode na água, o masculino, o suspiro de uma boca fechada e no momento em que ela se fecha.
Quando todo o ar passou para o grito e quando não sobra mais nada para o rosto. Desse enorme barrido de molosso, o rosto feminino e fechado acaba de se desinteressar.
E é aqui que começam as cataratas.
Esse grito que acabo de lançar é um sonho.
Mas um sonho que devora o sonho.
Estou num subterrâneo, sem dúvida, respiro, com a respiração apropriada, oh, maravilha, e sou eu o ator.
O ar à minha volta é imenso mas obstruído, pois a caverna é murada por todos os lados.
Imito um guerreiro perplexo, caído sozinho nas cavernas da terra e que grita atingido pelo medo.
Ora, o grito que acabo de lançar evoca primeiro um buraco de silêncio, de silêncio que se retrai, depois o barulho de uma catarata, um barulho de água, está na ordem, pois o barulho está ligado ao teatro. É assim que, em todo verdadeiro teatro, opera o ritmo quando bem compreendido.
Isso significa que quando represento meu grito deixou de girar em torno de si mesmo, mas desperta seu duplo de forças nas muralhas do subterrâneo.
E esse duplo é mais do que um eco, é a lembrança de uma linguagem cujo segredo o teatro perdeu.
Do tamanho de uma concha, adequado para segurar na palma da mão, esse segredo; é assim que fala a Tradição.
Toda a magia de existir terá passado para um único peito quando os Tempos se encerrarem.
E isso será bem perto de um grande grito, de uma fonte de voz humana, uma única e isolada voz humana, como um guerreiro que não tenha mais exército.
Para descrever o grito com que sonhei, para descrevê-lo com palavras vivas, com as palavras apropriadas e para, boca a boca e respiração contra respiração, fazê-lo passar não para o ouvido, mas para o peito do espectador.
Entre a personagem que se agita em mim quando, ator, avanço em cena e aquela que sou quando avanço na realidade, há uma diferença de grau, sem dúvida, mas em benefício da realidade teatral.
Quando vivo não me sinto viver. Mas quando represento sinto-me existir.
O que me impediria de acreditar no sonho do teatro quando creio no sonho da realidade?
Quando sonho, faço alguma coisa, e no teatro faço alguma coisa.
Os acontecimentos do sonho conduzidos por minha consciência profunda ensinam-me o sentido dos acontecimentos da vigília para onde me conduz a fatalidade nua.
Ora, o teatro é como uma grande vigília, onde sou eu que conduzo a fatalidade.
Mas [nesse] teatro onde conduzo minha fatalidade pessoal e que tem como ponto de partida a respiração, e que se apoia, depois da respiração, no som ou no grito, é preciso, para refazer a cadeia, a antiga cadeia em que o espectador procurava no espetáculo sua própria realidade, permitir que esse espectador se identifique com o espetáculo, respiração a respiração e tempo a tempo.
Não basta que essa magia do espetáculo prenda o espectador, ela não o aprisionará se não se souber onde pegá-lo. Basta de magia casual, de uma poesia que não tem mais a ciência para apoiá-la.
No teatro, doravante poesia e ciência devem identificar-se.
Toda emoção tem bases orgânicas. É cultivando sua emoção em seu corpo que o ator recarrega sua densidade voltaica.
Saber antecipadamente que pontos do corpo é preciso tocar significa jogar o espectador nos transes mágicos.
É [dessa] espécie preciosa de ciência que a poesia no teatro há muito se desacostumou.
Conhecer as localizações do corpo é, portanto, refazer a cadeia mágica.
E com o hieróglifo de uma respiração quero reencontrar uma ideia do teatro sagrado.
México, 5 de abril de 1936
 escola nômade organização não-governamental
escola nômade organização não-governamental
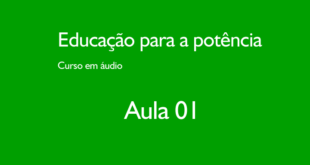
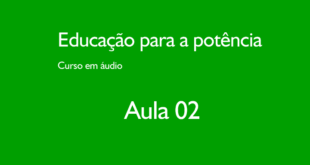
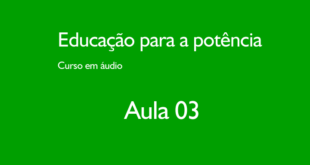

Por favor, utilize o espaço abaixo para afirmar seu comentário. Caso queria fazer perguntas ou trazer alguma demanda, pedimos que utilize o link CONTATO no menu de topo.